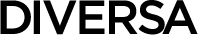Entenda a diferença entre inclusão, integração, segregação e exclusão
Especialistas explicam cada um dos quatro paradigmas históricos relacionados às pessoas com deficiência, destacam a importância de compreendê-los e apresentam estratégias para efetivar a inclusão nas escolas

Exclusão, segregação, integração e inclusão. Quem lê essas quatro palavras lado a lado talvez não saiba que elas carregam, pelo menos, dois milênios de história: cada uma corresponde a períodos específicos nos quais predominaram, desde o surgimento de antigas civilizações até a atualidade. Mas, apesar dos inúmeros avanços sociais e culturais ao longo do arco cronológico, esses paradigmas historicamente relacionados às pessoas com deficiência ainda coexistem nos dias atuais — o que, na educação, se revela, por exemplo, na negação de matrícula (prática que, inclusive, é criminosa) ou na imposição de condições para que os estudantes se adaptem para fazer parte da escola, e não o contrário.
Conhecer o contexto histórico e o que representa cada um dos quatro paradigmas é fundamental para compreender por que, ainda hoje, há tantos desafios para a inclusão de estudantes com deficiências e, a partir disso, atuar para promover mudanças que garantam a eles o direito de acesso, permanência, aprendizagem e conclusão dos estudos na escola comum. É o que explica Deigles Amaro, especialista em gestão educacional no Instituto Rodrigo Mendes (IRM).
“Ao olhar para a história da humanidade, constatamos que temos muito mais tempo de exclusão e de segregação. Somente a partir do século 20 passamos pela integração e, mais recentemente, vivemos um movimento ativo em prol da inclusão. Ter essa referência é importante para entender por que o cenário continua tão desafiador”, diz a especialista. “Em termos históricos, ainda é recente o entendimento de que o paradigma da inclusão indica que nós não podemos esperar da pessoa com deficiência que ela se modifique para fazer parte. Mas nós, enquanto sociedade, devemos criar condições para isso. É urgente consolidar esse entendimento para, respeitando o modo de ser, estar, pensar e agir das pessoas, planejar e oferecer propostas inclusivas.”
O que é e o que representa cada paradigma
Confira sínteses da maneira como as pessoas com deficiência foram compreendidas ao longo da história.
Exclusão: Pessoas com deficiência são consideradas incapazes e sem condições de participar dos variados ambientes e contextos da sociedade. Assim, esses sujeitos são privados de exercer seus direitos civis, políticos, sociais e educacionais.
“O paradigma da exclusão é esse que a gente via até pouco tempo atrás, em que as pessoas estavam excluídas ou não passavam pelo processo de educação formal.”
— Karla Garcia Luiz
Segregação: Considera-se que pessoas com deficiência devem viver em ambientes separados pelo fato de apresentarem características que não lhes permitem conviver com os outros cidadãos. Assim, são constituídas instituições para abrigá-las e assisti-las de forma apartada.
“É quando a gente já admite que há certos direitos para essas pessoas, mas desde que estejam separadas da população no geral, por critérios relacionados à ideia de que a deficiência as torna pessoas diferentes, e, por serem diferentes, o espaço de convívio das pessoas iguais, entendidas como normais, não é o espaço que elas devem ocupar ou onde devem circular. Quando tomamos como referência a educação, é o momento em que se confere o direito a algum tipo de atendimento, às vezes chamado de atendimento educacional — que muitas vezes não é —, mas desde que seja em outro lugar, e não na classe comum. É também nessa perspectiva que surgem o agrupamento por homogeneidade e as instituições específicas para pessoas com deficiência. Então, nesse paradigma, o que predominou foi a separação das pessoas que foram julgadas como incapazes de estar na sociedade.”
— Rosângela Gaviolli Prieto
“A segregação está muito presente nos ambientes destinados às pessoas com deficiência, ou seja, onde elas convivem apenas entre si. Mas o mundo real não é assim. O mundo real é diverso. Por isso, na segregação, todos perdem: perdem as pessoas com deficiência por serem privadas de conviver com outras pessoas, e perde a sociedade por não conviver com a diversidade.”
— Guilherme Chedide
Integração: Pessoas com deficiência podem participar das várias esferas da sociedade, desde que se mostrem aptas a isso, por méritos próprios. Ou seja, sem exigir alterações nos ambientes e nas práticas de convivência social. Para tanto, são submetidas a avaliações médicas.
“Esse paradigma traz para a pessoa com deficiência o seguinte: ‘Você pode participar de qualquer lugar, mas desde que tenha características e habilidades desenvolvidas para poder fazer parte’. Ou seja, a pessoa tem de se adequar para pertencer àquele espaço. Quando eu comecei a atuar na educação especial, em 1995, como terapeuta ocupacional, era bastante comum a pessoa fazer tratamentos com fonoaudiólogo e fisioterapeuta, por exemplo, para adquirir habilidades para poder ir à escola. E, naquela época, a maioria ia para a escola especial. Alguns que se sobressaíam iam para a escola comum e ouvíamos: ‘Nossa, essa pessoa é tão boa, nem parece que tem deficiência’. Assim, a deficiência é anulada, porque é considerado que a pessoa tem as características da maior parte da população que frequenta a escola. Então, estar dentro de um determinado ambiente é condicional à habilidade de o outro poder participar.”
— Deigles Amaro
Inclusão: Pessoas com deficiência devem participar de cada uma das esferas da vida humana, independentemente de suas especificidades físicas, intelectuais, sensoriais etc. O processo de transformação que viabiliza esse paradigma pressupõe que toda a sociedade se envolva na eliminação das barreiras existentes e na promoção da equiparação de oportunidades.
“A inclusão é o que mais se deseja, o que, para mim, tem muito a ver com a pessoa com deficiência sentir-se pertencente. Não adianta dizer que existe inclusão se não houver noção de pertencimento, o que significa se sentir igual em termos de participação social e não diminuída de forma alguma.”
— Izabel Maior
“A inclusão contrapõe todos esses outros paradigmas, pois afirma que todas as pessoas têm direito à educação escolar e que todo mundo pode e deve aprender a mesma coisa, ainda que de modos diferentes. Penso que a educação inclusiva precisa se propor a repensar a educação como um todo para todas as pessoas.”
— Karla Garcia Luiz
Baixe aqui o PDF com a síntese completa dos paradigmas produzida pelo IRM
A médica e ativista Izabel Maior conta que, quando começou os estudos, em 1961, na transição dos seis para os sete anos de idade, sua mãe não conseguiu uma vaga na sala comum. Como precisava que a filha frequentasse a escola enquanto trabalhava o dia inteiro, matriculou-a em uma classe especial. Na época, no entanto, Izabel não era uma pessoa com deficiência — o que só viria a acontecer 16 anos depois em decorrência de uma lesão na coluna.
“Fui para essa turma e lembro que na hora do recreio eu ia para o pátio com as outras crianças, e as que eram da minha turma, que ficavam comigo no restante das horas, não podiam ir. Ou seja, elas ficavam separadas, e lembro perfeitamente que não tinham caderno porque só desenhavam. No ano seguinte, eu fui para uma turma comum e elas seguiram apartadas do resto da escola”, recorda Izabel, que foi a primeira pessoa com deficiência a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entre 2002 e 2011.
Para Rosângela Gaviolli Prieto, doutora em educação, professora da Universidade de São Paulo (USP) e coordenadora do grupo de pesquisa Políticas de Educação Especial na mesma instituição, mais do que conhecer e compreender os paradigmas, “precisamos, enquanto educadores, refletir sobre as nossas ações e sobre como esses paradigmas ainda se manifestam nas nossas práticas”. De acordo com ela, essa é uma construção teórica que deve orientar, contagiar e alterar a atuação daqueles que trabalham com educação — o que, não por acaso, tem sido um dos maiores desafios da luta pela educação inclusiva, segundo a especialista.
“Não há outra alternativa: temos de pensar e repensar a nossa prática”, defende Karla Garcia Luiz, especialista em educação especial e doutora em psicologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc). Mas antes, ela enfatiza, é necessário revisitar o que se pensa sobre deficiência. “Para o senso comum, a deficiência tem um significado muito ruim. Se eu acredito que ela representa falta, incapacidade, limitação ou defeito, vai ser impossível pensar na minha prática de modo inclusivo. E não podemos, na nossa vida profissional, entregar coisas do senso comum. Por isso, é crucial nos ampararmos nos estudos e nas discussões daquilo que estudamos”, enfatiza.
Inclusão x integração: um olhar para a história
É consenso entre as especialistas que, apesar dos direitos conquistados, os paradigmas da exclusão, segregação e integração ainda não foram superados. Para entender as razões disso, é necessário olhar também para a história recente: no Brasil, a luta pelo direito à educação para as pessoas com deficiência começou a ganhar força na década de 1970, quando políticas educacionais passaram a ser desenvolvidas com foco na integração delas ao sistema regular de ensino. Ainda assim, a responsabilidade de adaptação recaía sobre os estudantes, e não sobre a escola.
É apenas a partir da década de 1990, com o paradigma da inclusão alcançando relevância mundial, principalmente após a Declaração de Salamanca, que o país também adotou medidas que trouxeram avanços significativos (clique aqui para saber mais sobre os marcos legais) — resultado de um forte movimento de reivindicação liderado pelas pessoas com deficiência. Para se ter ideia, foi em 2008 — ano em que foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) — que o número de estudantes público-alvo da educação especial matriculados em escolas comuns superou o daqueles que ainda frequentavam instituições especializadas.
A mobilização pela inclusão escolar surge em oposição ao modelo médico da deficiência, que historicamente a tratou como um problema individual, relacionado a diagnósticos, limitações ou “falhas” do corpo e da mente que deveriam ser corrigidas ou mitigadas. “Quando se fala em modelo médico, ou biomédico, a deficiência é tratada como doença, que está no campo da saúde, ou da falta de saúde, e não é isso”, acrescenta Izabel.
Nesse modelo, que está ligado ao paradigma da integração, estudantes com deficiência podem frequentar as escolas comuns somente se tiverem condições de acompanhar o que já está instituído na rotina, sem requerer mudanças estruturais ou pedagógicas. Muitas vezes, exige-se laudo médico ou diagnóstico clínico para definir se o aluno deve ser encaminhado a escolas especiais, classes especiais ou escolas comuns.
No dia a dia escolar, não é raro que situações como essas levem educadores, familiares e responsáveis a confundir integração com inclusão. “O perigo dessa confusão é achar que o estudante com deficiência estar de corpo presente na escola é sinônimo de inclusão, e não é”, alerta Karla. “Precisamos saber o que exatamente é integração e o que é inclusão para que a gente não perpetue práticas integrativas que, sem sombra de dúvida, não são inclusivas”, sustenta.
Consultor e palestrante sobre diversidade e inclusão, Guilherme Chedide diz que “integração é chamar a pessoa com deficiência para a festa e inclusão é chamá-la para dançar”. “Ouvi essa frase uma vez e nunca a esqueci porque, para mim, ela traz uma boa perspectiva do que são esses paradigmas. Afinal, uma coisa é inserir a pessoa em diversos contextos e outra, bem diferente, é criar condições para que ela participe ativamente desses espaços.”
Modelo social como caminho para a inclusão
Rosângela afirma que, “do mesmo jeito que nós nunca superamos os argumentos que colocam em disputa os diferentes paradigmas, também não superamos a presença do modelo médico”. Por outro lado, observa que, constantemente, “temos discursos e propostas que se apoiam nos princípios da inclusão para, por fim, dizer: ‘Mas há algumas pessoas que não podem se beneficiar dos espaços comuns’, o que, com frequência, ocorre no contexto da escola, que não é organizada para todos”.
A especialista, que tem uma vasta atuação na luta pela inclusão, lembra que falas como essa vieram à tona com a publicação do Decreto nº 10.502/2020, que previa a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em classes e instituições separadas dos demais estudantes. Revogado pelo atual governo em janeiro de 2023, “o decreto repete todo o discurso que, em tese, apoia a perspectiva inclusiva para a educação de pessoas com deficiência, mas que, ao fim, diz da importância de continuar havendo classe especial e escolas especializadas porque, afinal, o conceito de diversidade não é amplo, geral e irrestrito. Sendo fiel aos conceitos, eu diria que a inclusão não pode, em nenhum momento, combinar com o modelo médico”, reforça.
O paradigma da inclusão alinha-se ao modelo social da deficiência, que a entende não como uma limitação intrínseca da pessoa, mas como o resultado “da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”, como registrado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas de 2006, documento que norteia o arcabouço legal sobre deficiência e educação inclusiva no Brasil.
Karla explica que essa perspectiva considera a deficiência como uma experiência sociológica que faz parte da natureza humana, que pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Assim, ela não está estritamente ligada aos impedimentos físico, intelectual etc., “mas se dá no encontro de um corpo com lesão com barreiras que são social, cultural e historicamente construídas”. “É isso que a escola precisa se dispor a quebrar: as barreiras. Não são as pessoas e seus corpos que não devem estar ali naquele espaço. São as barreiras que nós precisamos eliminar.”
Esse entendimento, frisa Rosângela, faz parte da construção de um processo cuja tarefa principal é denunciar a exclusão. “A sociedade como um todo é excludente, e a escola, como instituição criada por ela, não será inclusiva por natureza. Precisamos tensionar e provocar constantemente para evidenciar que, mesmo quando avançamos na garantia de aprendizagem para determinados estudantes, surgem novos movimentos excludentes dentro da própria escola. Quanto mais nós caminhamos para tornar esse espaço coletivo mais justo, mais contribuímos para impulsionar todo esse questionamento em relação ao contexto social, fazer resistências e promover avanços no âmbito geral”, diz.
É preciso revisitar o próprio capacitismo
Para Karla, a virada de chave que o modelo social propõe é fundamental para se pensar em uma sociedade anticapacitista — o que convida o sujeito a, sobretudo, olhar para si mesmo. “Só conseguiremos educar crianças anticapacitistas quando revisitarmos o nosso capacitismo”, ressalta. Ela argumenta que as formações docentes ainda estão, de modo geral, impregnadas de capacitismo por trazerem uma lógica patologizante e medicalizante das práticas educacionais. “As crianças convocam a fazer essa reflexão, a dar outras respostas e cultuar novas crenças sobre a deficiência. Você pode ler 200 livros, mas se não entender que a deficiência é parte da vida humana, que não é defeito nem excepcionalidade no sentido positivo da coisa, você não terá uma prática inclusiva”, reforça.
Guilherme, que é uma pessoa com deficiência visual, conta que viveu situações nas quais o capacitismo se fez presente várias vezes ao longo de seus 26 anos de idade. “Às vezes, vou fazer alguma coisa e alguém se coloca à disposição para ajudar ou até mesmo chega a fazer, pressupondo que eu não daria conta de fazer aquilo sozinho. Em uma empresa na qual trabalhei, fui dispensado de um treinamento que seria realizado com toda a equipe e para o qual eu estava empolgado sob o argumento de que eu faria a capacitação de outra forma, em outro dia. Lembro que me senti bem mal”, relata.
Deigles chama atenção para o fato de que o capacitismo tem mais de um lado e pode se manifestar, inclusive, quando não há intenção consciente de se reproduzir preconceitos. Tão comum quanto supor que o outro, em decorrência da deficiência, não é capaz de algo, é acreditar que, para poder, ele precisa ser “um super-herói que supera a sua própria condição”. Ambas as formas de pensar são capacitistas e podem indicar que a inclusão não está acontecendo de fato. No entanto, ela diz que é preciso tomar cuidado para não achar que a existência do capacitismo é motivo para não investir em estruturas inclusivas.
A construção de uma sociedade inclusiva se dá ao mesmo tempo em que se combate o capacitismo. “O anticapacitismo consolida algumas práticas que são de reconhecimento do outro e de seus direitos, de alterações das nossas rotas de relações pessoais, interpessoais e pedagógicas, para ir modificando a sociedade e, consequentemente, a escola. É claro, não podemos ser ingênuos: estamos em um momento histórico difícil que quase sempre vai na contramão dessa luta. Mas, se caminhamos até agora para que essas mudanças se concretizassem, nós vamos ter de respirar fundo e encontrar mais fôlego para continuar a luta”, reflete Rosângela.
De acordo com Deigles, por meio de reflexões como essas, é possível ao professor observar no dia a dia, se, por exemplo, a sua forma de pensar o planejamento está impondo restrição ao estudante por alguma condicionalidade prévia ou se prevê organizar propostas, escolher materiais e considerar recursos que criem condições para que o outro possa participar do jeito como ele é e pode estar; e ainda se precisa de ajuda para elaborar alternativas inclusivas e envolver outros atores escolares, como o professor do atendimento educacional especializado (AEE) e profissional de apoio escolar.
“A inclusão vai se dar no cotidiano escolar, na construção dos projetos político-pedagógicos e do currículo, ao pressupor a presença da pessoa com deficiência, e não a ausência dela. Pensar em educação inclusiva é pensar antes em outros modos de dar aula e considerar que esse sujeito pode se beneficiar de um recurso que talvez possa favorecer outras pessoas que não têm deficiência também. Isso é educação inclusiva”, completa Karla.
Uma construção por e para todos
Mas, afinal, o que ainda é preciso para que o paradigma da inclusão seja efetivamente vivenciado por todas as pessoas, com ou sem deficiência? “Trabalhar pela inclusão das pessoas com deficiência é, acima de tudo, trabalhar em prol da qualidade da educação geral e, portanto, da ampliação de todas as ações que possam e são indicadas para que o ensino brasileiro passe a cumprir — ou continue cumprindo — vários de seus compromissos, que estão sendo delegados”, responde Rosângela.
A especialista ressalta que, apesar do direito à educação escolar estar garantido no Brasil para crianças e adolescentes de quatro a 17 anos, como previsto pela Constituição, o país ainda enfrenta desafios significativos para cumprir esse dever. Ela destaca índices preocupantes de abandono e evasão escolar, além de apontar que o acesso ao conhecimento permanece insatisfatório para grande parte dos estudantes. Outro obstáculo mencionado é a baixa oferta de educação integral, ainda aquém do ideal, e a necessidade de um financiamento adequado, que assegure melhorias na qualidade do ensino, responsabilidade que recai prioritariamente sobre o Estado, em colaboração com a sociedade e as famílias.
Rosângela argumenta que o avanço na inclusão depende de uma articulação efetiva entre ações voltadas à construção de uma escola compreensiva, que seja, acima de tudo, um espaço de direito para todos os estudantes. Isso significa adotar práticas pedagógicas que considerem as singularidades de cada indivíduo, investir em formação continuada para educadores e promover a participação de toda a comunidade escolar na criação de um ambiente inclusivo.
Enfrentar esse desafio, sugere Deigles, exige mudar a estrutura da escola, a concepção do que é ensinar e de como fazer isso. “Precisamos pensar em outras formas de estruturar a escola, de organizar os espaços físicos, os materiais, as propostas pedagógicas, e nos colocar, como exercício cotidiano, o desafio de como fazer isso de múltiplos jeitos”, diz. Para isso, é essencial sair do automatismo. “As primeiras barreiras para a inclusão são as atitudinais, então precisamos colocar atenção em tudo que falamos e fazemos, ou seja, observar a nós mesmos e o meio em que vivemos para não reproduzirmos atitudes que vão contra o que estamos propondo aqui.”
Ela destaca a importância de conviver com a diversidade. “Ninguém aprende a inclusão sem vivê-la. Por isso, precisamos lançar o desafio de estar em espaços onde pessoas com diferentes características estão presentes”, diz Deigles. Izabel acrescenta que essa convivência deve começar o mais cedo possível. “Não digo que cedo é hoje, agora, mas sim na vida de cada pessoa. E se ainda não tiver começado, que pelo menos nos ambientes obrigatórios de formação profissional cada pessoa possa ter essa vivência para que não considerem pessoas com deficiência doentes”.
“A gente tem uma frase que é: nada sobre nós sem nós. Para avançarmos, precisamos que as políticas públicas sejam elaboradas por quem vive a deficiência. Não adianta que isso seja feito somente por pessoas que não têm deficiência e acham que sabem o que é bom para nós. Só viveremos de fato o paradigma da inclusão quando a nossa participação for ampla e efetiva”, diz Guilherme.
Karla concorda e reforça: “O futuro é anticapacitista e não podemos pensá-lo sem a presença das pessoas com deficiência”. A pesquisadora ressalta que é indispensável considerar que o estudante sabe dizer o que é bom para a sua vida e para o seu processo de ensino e aprendizagem. “Ele tem desejos, tem preferências, é uma pessoa, e precisamos conferir dignidade e ouvir a voz das pessoas com deficiência, ainda que não se comuniquem verbalmente, ainda que usem a língua de sinais, ainda que balancem uma perna para sinalizar alguma coisa. Nós, pessoas com deficiência, precisamos fazer parte desse processo na luta anticapacitista. Esse é um problema que pessoas sem deficiência criaram e que vão ter de resolver na nossa companhia, na nossa presença, tensionando os espaços, as estruturas, os comportamentos e o tempo”, ressalta.
+ Leia mais:
Capacitismo: o que é como a escola deve enfrentá-lo
O legado das mulheres na construção do modelo social de deficiência
Direitos das pessoas com deficiência: avanços e recuos, segundo relatora da ONU
Professores com deficiência: aprendizados de uma presença que faz diferença