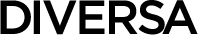Luta por informação marca trajetória de mãe que criou Movimento Down
Maria Antônia Goulart conta como ampliar o conhecimento sobre a síndrome tem sido essencial para apoiar o desenvolvimento da filha e ajudar outras famílias

Há 14 anos, a educadora Maria Antônia Goulart constatou que o acesso à informação faz toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência e de sua família, desde o nascimento. Ao saber, logo após o parto, que a filha Beatriz havia nascido com Síndrome de Down, ela e o então marido começaram uma busca incessante por informações que pudessem ajudá-los a entender mais sobre a condição da menina.
Insatisfeita com o que encontrou na internet, Maria decidiu, junto com outras mães, criar, em 2012, o Movimento Down, com o objetivo de reunir conteúdos e iniciativas que colaborem para o desenvolvimento das potencialidades de quem nasce com Síndrome de Down e que contribuam para a inclusão dessas pessoas em todos os espaços da sociedade.
Além de ser uma das lideranças do Movimento Down e do Movimento de Ação e Inovação Social (Mais), Maria Antônia é coordenadora da iniciativa do livro digital acessível no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e integrante do Comitê Gestor do Centro de Referências em Educação Integral. Mãe também de Luiz, 28 anos, e de Marina, 12 anos, sua trajetória é marcada pela luta contra o capacitismo, evidenciado pelas barreiras atitudinais enfrentadas não só por Beatriz, mas por toda a família.
Confira a seguir o relato dela ao DIVERSA.
“A vida de qualquer pessoa se divide em antes e depois de um filho. Essa transformação é ainda mais intensa quando se trata de um filho com deficiência. Eu já era mãe de um menino de 14 anos quando a minha segunda filha nasceu, em 2010, e muita coisa mudou — a começar por mim mesma.
Tive uma gestação tranquila e, por nove meses, me preparei para um parto normal, como foi com o nascimento do Luiz. Já em trabalho de parto, na maternidade, a Beatriz não vinha e meu médico sugeriu uma cesárea de emergência. Tudo correu bem, fui para o quarto após a cirurgia e fiquei esperando por ela. Achei que a demora fosse por conta da cesárea, mas não. O pediatra do meu primeiro filho, que acompanhava tudo de perto, chegou para conversar comigo. Ele disse: “Olha, a Beatriz nasceu com Síndrome de Down, mas fique tranquila, está tudo bem. Fizemos todos os exames necessários e daqui a pouco uma geneticista vem conversar com você. Agora, o que você precisa saber é que sua filha é saudável e ela só precisa de peito e laço de fita, o resto você deixa para depois”. Como tinha um sobrinho com Síndrome de Down, ele teve muita sensibilidade não só para acionar outros especialistas, como para falar comigo e com o pai da Beatriz.
Em comparação com tantos outros relatos que já ouvi, acho que foi a melhor forma de receber essa notícia. Mas, ainda assim, foi muito difícil, porque é algo que quebra, de um jeito bastante avassalador, com as expectativas de uma mãe e, imediatamente, se torna um enfrentamento muito profundo do próprio capacitismo. Naquele momento, eu tive o ímpeto de ficar triste, de achar que ela não correspondia ao que eu queria. E isso é muito cruel. Ela só era ela. Por que não bastaria? De toda forma, todos nós temos zonas de sombra dentro da gente e é muito difícil acessar esse lugar, afinal, é preciso se confrontar com coisas que não gostamos em nós. O capacitismo é algo estrutural e vem acompanhado das expectativas narcísicas que colocamos em nossos filhos. Reconhecer isso é fundamental para uma virada de chave e foi o que aconteceu.
Movimento Down: caminho para trilhar com outras famílias
Saindo da maternidade com a Beatriz nos braços, meu ex-marido fez uma busca rápida na internet sobre a Síndrome de Down e o primeiro conteúdo que apareceu era sobre envelhecimento precoce de pessoas com trissomia do cromossomo 21. Imagine só: você, com um bebê de um dia de vida já pensando no envelhecimento precoce, na morte da criança. Eu me senti muito desamparada. Encontrávamos muitas coisas sobre autoajuda e poucas operacionais, ou seja, que pudéssemos colocar em ação para entender o que era aquela nova realidade. Nos dias seguintes, comecei a me movimentar, a entrar em grupos e conversar com outras famílias. Assim, conheci duas mães que tinham filhos um pouco mais velhos que os meus e que estavam morando nos Estados Unidos. Elas começaram a me mandar diversos materiais de associações norte-americanas com dicas práticas sobre estimulação, saúde, ciclos de vida etc., e isso me ajudou muito. Por outro lado, me preocupei bastante com a maneira como outros pais e responsáveis tinham acesso a esse tipo de informação no Brasil. A família de uma criança com Síndrome de Down tinha de ter a sorte de conhecer alguém em outro país, que pudesse enviar informações e ainda saber inglês para ter acesso a elas? Não podia ser assim. Conversando com elas, decidimos criar um portal direcionado às famílias, com informações de qualidade. Assim nasceu o Movimento Down, que se tornou uma parte importantíssima da minha vida pessoal e profissional.
Aprendendo a navegar entre barreiras atitudinais
Antes da Beatriz, eu nunca tinha tido contato direto com pessoas com deficiência. Foi a partir da chegada dela que comecei a entender o que são barreiras. Quando se é mãe de uma criança com deficiência, todos os dias conhecemos uma barreira nova. Por termos uma condição socioeconômica privilegiada, sempre pudemos proporcionar tudo o que ela precisa para se desenvolver, diferentemente da realidade da maioria das famílias brasileiras. Não enfrentamos barreiras de ordem socioeconômica. Isso, no entanto, não nos privou de enfrentamentos de outra natureza. Quando a Beatriz era muito pequena, o preconceito me incomodava muito. O jeito como algumas crianças olhavam para ela, os cochichos e as vezes em que evitavam brincar com ela, por exemplo. Isso aconteceu muitas vezes, nas praias, nas praças, nas festas. É muito duro ver a sua filha ser rejeitada só porque ela tem uma condição diferente. Ela lá, toda saudável, linda, brincando, participando e as crianças se esquivando, como se dissessem “Você não serve”. Isso aparecia para mim com muita força e muita dor.
Com o passar do tempo, não sei se fomos ficando mais “casca grossa” ou se a Beatriz foi aprendendo a navegar, mas as coisas foram mudando. Hoje em dia, com 14 anos, ela tem muita habilidade de se relacionar, de ler os ambientes, de saber onde é para ir ou não, onde ela vai ser bem-vinda ou não. Quando chegamos a um lugar onde ela não se sente confortável para ficar, eu nem discuto porque confio no que ela sentiu ali. Ela sabe que não vai ser bom para si e tem o direito de se preservar. Como mãe, também não posso estar o tempo inteiro na linha de frente dos enfrentamentos. Há dias em que falo para mim mesma: “Hoje não vou militar, hoje vou deixar passar”. Não dá para todos os dias brigar com as pessoas, com a escola, com alguma instituição. As barreiras atitudinais são, sim, muito dolorosas e atravessam a nossa vida da hora em que a gente acorda até a hora em que vamos dormir. Há 14 anos passo por isso, e é exaustivo acordar diariamente e pensar: “Será que esse parque vai criar dificuldade para a minha filha brincar?”. Não dá, não pode. Geralmente, as pessoas têm uma desculpa na ponta da língua para justificar falas e atitudes capacitistas, o que desencoraja e cria barreiras efetivas para a não participação da criança. Claro que existem outras barreiras — conversando com outras famílias, percebo que a acessibilidade, por exemplo, ainda é uma grande barreira presente nas escolas.
Altas expectativas e inclusão na escola
Desde a educação infantil, a Beatriz estuda em uma escola privada do Rio de Janeiro, e, no geral, tem sido uma experiência muito boa. Faço parte de um grupo com mais de cem famílias de alunos com deficiência e tenho mais motivos para estar satisfeita do que o contrário. Porém, o enfrentamento existe, mesmo sendo uma instituição que vem incluindo estudantes com deficiência há mais de 15 anos. Não é um mar de rosas. A relação com a escola é um fio que precisa se manter esticado. Não podemos afrouxar, mas também não podemos apertar demais, senão arrebenta. Essa tensão ideal, que é esse esticado sem arrebentar, é algo muito delicado. Além disso, não é todo educador que acredita que seu aluno vai aprender. As baixas expectativas são uma grande barreira para a aprendizagem. O aprendizado só acontece quando há um educador que acredita que o estudante pode aprender e quer ensinar, e um estudante que quer e acredita que pode aprender.
Essa tem sido a vivência da Beatriz. Ela está incluída, tem amigos e participa de atividades dentro e fora da escola, de modo que ela sempre está na casa das amigas e vice-versa. Vejo, com nitidez, a diferença entre ela e as amigas em relação à elaboração de determinados assuntos. Ao mesmo tempo, aparece também, muito forte, a capacidade de elas estarem juntas fazendo coisas que interessam a todas. Há momentos em que a Beatriz não as acompanha, mas existe um caminho de convergência que elas encontram juntas e acho isso muito bonito. Para mim, a inclusão acontece nessas situações.
A construção da autonomia e de futuros possíveis
Quando olho para trás, sinto muito orgulho da trajetória do Movimento Down, de tudo o que fizemos, e também me orgulho muito da Beatriz. Todos os dias aprendo com a sua capacidade de fazer e cultivar amizades. Inclusive, passei a ter muito mais amigos depois que ela entrou na adolescência. E é maravilhoso poder vê-la crescer rodeada de gente que se importa e ama quem ela é.
Hoje, lidamos com outros desafios, como a construção da autonomia. Já estamos de olho nessa vida independente e criando condições para que ela seja uma pessoa cada vez mais autônoma. Ela adora cozinhar e fazer batata frita. Esses dias comprei uma air fryer de ponteiro digital para que ela conseguisse usar sozinha. Parece simples, mas é um passo importante desse processo para que, um dia, ela possa morar sozinha e construir seus relacionamentos pessoais, profissionais e afetivos, e o que mais ela quiser. Então, estamos agora começando a olhar para esse porvir.
No Movimento Down, nós nos acostumamos a dizer para as famílias que nossos filhos não são nossos eternos bebês. Não podemos desumanizá-los por terem uma deficiência. Ninguém é um eterno bebê, todo mundo cresce. E nós precisamos enfrentar esse crescimento sabendo de todas as dificuldades que vêm junto, como as dúvidas e os medos. Mas as dificuldades têm de ser enfrentadas com serenidade, para permitir os erros durante a construção dessa autonomia. Quando a Beatriz começou a andar sozinha na rua, por exemplo, me perguntavam: “Você não tem medo de ela se perder?”. Sim, tenho, mas e aí? Ela só vai andar quando eu parar de ter medo? Sinceramente, não sei se algum dia vou parar de ter medo. Hoje em dia, com ela cozinhando, sempre me perguntam: “Mas ela não queima a comida?”. Eu respondo: sim, várias vezes, mas só aprende a cozinhar quem queima a comida. Então é ter a serenidade de permitir que o porvir se apresente e que estejamos, como pais e responsáveis, abertos também para o que virá.”