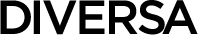Enfrentar a desigualdade territorial é essencial para o avanço da educação inclusiva
Em entrevista, Fernando Abrucio defende a necessidade de um forte movimento para colocar no debate nacional a construção de uma governança cooperativa entre os governos federal, estadual e municipal

Construção de novos mecanismos de governança federativa e intersetorial, dedicação integral para os professores nas escolas e formação inicial e continuada voltada à inclusão. Esses são alguns dos fatores cruciais para que o Brasil dê novos passos em direção a avanços mais significativos na equidade da oferta educacional para as pessoas com deficiência. Quem defende esse ponto de vista é o cientista político Fernando Luiz Abrucio, coordenador da área de educação do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV). Consultor e pesquisador com experiência nas áreas de administração e políticas públicas, Abrucio tem acumulado pesquisas sobre as estruturas e os mecanismos da educação brasileira, com destaque para trabalhos sobre formação de professores e articulação federativa, entre muitos outros.
Atualmente, ele coordena uma pesquisa de avaliação de impacto do “Alavancas para a Educação Inclusiva de Qualidade”, uma iniciativa do Instituto Rodrigo Mendes (IRM), em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Movimento Bem Maior, o Instituto Ambikira e o Instituto Machado Meyer. Com duração de três anos, o projeto aposta na formação de diferentes profissionais, principalmente do campo da educação, mas também de outras áreas que atuam no executivo, no legislativo, no judiciário e em colegiados de participação e controle social. Seu objetivo é fortalecer a elaboração ou revisão de políticas voltadas à educação inclusiva em dez municípios das cinco regiões brasileiras.
No final de 2023, a equipe de pesquisadores liderada por Abrucio visitou as diferentes localidades que integram o Alavancas para mensurar o impacto das ações em curso e mapear as especificidades de cada contexto local. Desse mergulho no tema, o pesquisador saiu com a forte convicção de que é hora de uma grande articulação nacional para que esses estudantes possam ultrapassar barreiras ainda muito presentes na educação brasileira.
Apesar da consistente evolução ocorrida desde o final da primeira década deste século, em especial nos anos iniciais do ensino fundamental, restam grandes desafios, como a formação de profissionais e a continuidade desse trabalho, principalmente a partir dos anos finais do ensino fundamental, quando começa a operar um funil que vai deixando de lado muitos estudantes com deficiência. Sobretudo dos estados brasileiros, espera-se novos níveis de adesão e coordenação que auxiliem no objetivo de ter uma oferta mais equânime com vistas à educação inclusiva.
Você acaba de sair de um mergulho no tema da inclusão, feito a partir do contato com o Alavancas. O que mudou em sua visão sobre a educação inclusiva no Brasil?
As coisas ficaram mais claras para mim. Eu não tinha noção do quanto a cobertura escolar tinha avançado para crianças com deficiência. O Censo Escolar já indicava isso, mesmo com a tentativa de retrocesso no período Bolsonaro [2019-2022]. Os dados mostram aumento da cobertura escolar no Brasil [em 2008 eram 695,6 mil matrículas de estudantes público-alvo da educação especial, em 2023 esse número saltou para 1,7 milhão, dos quais 91% estão em escolas comuns]. A sensação é a de que esse processo de inclusão, que chamo de inclusividade, está se ampliando ainda mais. Outros tipos de deficiência e formas de inclusão estão aparecendo. A presença de pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA), por exemplo, aumentou 50% nas escolas públicas no ano passado [um acréscimo de mais de 200 mil matrículas]. É um fenômeno mais avassalador do que eu imaginava.
Houve um grande avanço quando se criou uma política de inclusão que permitiu trazer as crianças e jovens com deficiência para o conjunto dos estudantes — essa é a ideia da inclusividade: não os colocar separados em uma bolha, embora possam existi, e seja bom que existam, serviços auxiliares. Agora, é preciso que haja um movimento forte, que poderá ter um efeito muito bom.
Esse movimento passa pelo fortalecimento do próprio sistema educacional?
Sim, pois o sistema ainda está muito distante [das necessidades]. Na primeira fase, houve um aumento da cobertura escolar para pessoas com deficiência, com a inclusividade acontecendo aos poucos ao longo dos últimos dez anos. Agora, chegamos a um grau muito maior, com novas demandas. As escolas e os sistemas de ensino não estão preparados para esse processo. Talvez não tenhamos percebido a dimensão do todo. Teremos de gastar um tempo grande para pensar nisso, do mesmo modo que gastamos para pensar a reforma do ensino médio, por exemplo. É um assunto muito importante para um número cada vez maior de famílias na sociedade brasileira. Precisamos criar condições para uma política universal de cobertura, algo que o governo Lula retomou. Teremos ao menos mais uma década para criar essas condições ao mesmo tempo que o fenômeno vai continuar crescendo. É um desafio que ficou muito claro ao fazer a pesquisa de campo e que tem de ser destacado.
Como achar soluções em meio à enorme desigualdade do país?
No Alavancas, pegamos uma amostra muito pequena, de dez cidades, em que, com exceção de uma delas, não são municípios ricos. Não são os precursores de políticas de inclusividade no país. Mas são das cinco regiões brasileiras e revelam uma desigualdade na oferta educacional em termos de inclusão. Para melhorar a qualidade da educação inclusiva nos próximos dez anos, teremos de levar em conta a questão da desigualdade territorial. Para isso, é muito importante pensar do ponto de vista federativo, como o governo federal e os governos estaduais podem, em uma governança cooperativa, ajudar a reduzir essa desigualdade na provisão da política inclusiva dos municípios. Hoje, pouco mais da metade dos estudantes brasileiros da educação básica são estudantes municipais.
É fácil notar, ao olhar as matrículas de estudantes com deficiência, um afunilamento, com números decrescentes dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, deste para o ensino médio e assim por diante.
Isso está ligado à governança federativa. Por um lado, vai crescer o número de estudantes em função da provisão de crescimento de matrículas na educação infantil. A entrada da inclusividade já se dá nas creches. O crescimento deve acontecer em função dessa nova provisão. É matematicamente muito marcante esse afunilamento das matrículas dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental e dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio. Já na passagem para o ensino superior, a proporcionalidade [desse funil] não é muito diferente do conjunto do restante dos alunos.
O fato de os estados serem responsáveis por uma parcela grande de estudantes dos anos finais do ensino fundamental pode ser parte do problema?
Essa questão tem muito a ver com a falta de governança colaborativa entre municípios e governos estaduais. Vimos isso em campo. Gestores de escolas municipais que diziam: “A gente está fazendo um baita trabalho de inclusividade aqui com o Alavancas, mas daqui a pouco nós vamos entregar para o governo estadual e eles vão perder todo o nosso trabalho”. Falavam assim, diretamente. Alguns municípios estavam aumentando o número de turmas para os anos finais do ensino fundamental, entre outras razões, por causa dessa questão. Porque está crescendo o número de famílias com crianças com deficiência e elas falam “para essa escola estadual eu não entrego meu filho”. Então, essa falta de governança colaborativa já se inicia nos anos finais do ensino fundamental. E no ensino médio afunila ainda mais. É importante pensar que a maior parte da inclusão escolar de crianças com deficiência se dá no município, mas de forma crescente. Quando você vai subindo para os ciclos, ela passa para os estados. Se os municípios estão despreparados — lembremos que eles são muito heterogêneos entre si e, em geral, têm menos recursos —, os estados também estão mal preparados, não por ter menos recursos, pois eles são heterogêneos entre si, mas muito menos do que os municípios, mas porque não estão pensando em uma política com essa finalidade. Isso é muito claro.
Quando teve início essa desarticulação com os estados?
A expansão da inclusão, que começou em 2009 [após a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a PNEEPEI, criada em 2008], foi articulada pelo governo federal e assumida pelos municípios. Os estados ficaram fora desse processo. É preciso trazê-los de volta para ajudar os municípios a consolidar a política de inclusão e também porque eles vão ser diretamente os gestores dessa política a partir de uma parte dos anos finais do ensino fundamental (quase metade das matrículas) e do ensino médio. O problema de funil acontecia com os estudantes negros antes da universalização. Estudei na periferia de São Paulo e, na minha turma dos anos iniciais do ensino fundamental, eu era um dos poucos brancos. Ao subir nos ciclos escolares, os negros foram sumindo. Isso diminuiu muito no Brasil com a universalização, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental. Você começa a ter um número muito maior de alunos negros chegando ao ensino médio. Mas, no caso da inclusividade de crianças e jovens com deficiência, os estados ainda não assumiram seu papel. Enquanto isso não ocorrer, há esse duplo risco: de a gente ter uma expansão muito heterogênea dessa política em todo o Brasil e, naqueles municípios com boas políticas, diminuir o número daqueles que conseguem avançar nos ciclos escolares quando os seus alunos passarem para a rede estadual. Então, no centro da questão da educação inclusiva está o federalismo educacional, sem dúvida.
Qual o papel do governo federal?
Do ponto de vista da União tínhamos uma política muito bem desenhada há uns 15 anos, com aspectos que precisam ser reformados, pois muita coisa mudou na sociedade — às vezes parece que não houve a percepção de que 15 anos significam muito tempo. Precisamos pensar em um modelo de federalismo da educação inclusiva urgentemente. Se não fizermos isso, teremos muitos gargalos. O que vimos no campo foram os gargalos de uma política que foi impulsionada, teve um enorme crescimento e gerou demanda de mais crescimento pelo fato de as famílias começarem a identificar com mais facilidade que seus filhos tinham algum tipo de deficiência. Das escolas também se exigia uma abordagem que desse conta dessa questão e fosse ao mesmo tempo específica e geral. Específica para formação dos profissionais, mas geral para incluir todas as pessoas, para que os estudantes não fiquem escondidos, como acontecia na minha época, na década de 1970, quando os alunos com deficiência ficavam escondidos em um canto da escola.
Isso se fossem para a escola.
Se fossem! Estou pensando naqueles que chegavam à escola. Lembro de um colega cadeirante que ficava escondido, às vezes no banheiro. Ele era visto apenas de tempos em tempos. E a gente não tinha muita noção do que era o processo educacional. Se não resolvermos essa questão do federalismo educacional, isso vai se tornar disfuncional, pois teremos um tratamento muito desigual pelo país. Nós teremos o funil do ponto de vista dos ciclos escolares, muitos lugares com dificuldade de transformar um tratamento digno à criança com deficiência em um tratamento de diversidade, que são duas coisas distintas.
Além dessa governança federativa, o que mais é necessário para potencializar o alcance da inclusão?
A governança intersetorial. Ela envolve uma ligação da família com a escola muito maior do que em outros fenômenos escolares. Primeiro, porque as famílias têm dificuldade de compreender o que significam os tipos de deficiência. Segundo, porque elas têm dificuldade de lidar com isso em suas casas, então a escola, em certa medida, traz um processo de aprendizagem para elas. Terceiro, há um problema de desigualdade social prévia, pois não é apenas que temos um tipo de peneira de crianças com deficiência, que em parte passa por questões de valores e visões mundo, mas é também socioeconômica. Quem não consegue colocar suas crianças com deficiência na escola tem um obstáculo socioeconômico. A assistência social tem um papel insubstituível. É preciso preparar melhor diretores e professores para que conversem com as famílias, mas a educação não vai ser a assistência social, assim como a assistência social não vai ser a educação.
E a outra interligação central e óbvia de governança intersetorial, que compõe esse tripé, é a saúde. Há uma discussão muito grande sobre os laudos: as escolas às vezes acham que há laudos demais, às vezes de menos, pois o processo de diagnóstico é complexo e torna difícil a construção da educação inclusiva. Fala-se muito dessa guerra, mas me preocupa mais o dia seguinte, pois muitos municípios não têm o médico especializado, pelo menos dentro do que a lei pede para produzir um laudo. As escolas quase que produzem o laudo para o médico. O acompanhamento médico dessa nova ideia, que é uma combinação de singularidade com inclusividade, é muito raro no Brasil. Há algumas instituições que conseguem fazer esse trabalho, mas isso não abarca a maior parte do território brasileiro. A intersetorialidade é prejudicada pela própria fragilidade do modelo do Sistema Único de Saúde (SUS), pois avançamos mais na atenção primária, que é essa capacidade impressionante, dado o número de pessoas no país, de conseguir diagnosticar e ministrar os primeiros cuidados preventivos de forma gratuita, pública e universal. Mas tem o dia seguinte. E no caso das crianças e jovens com deficiência isso dura toda a vida. O que a gente chamaria de nível secundário do SUS é onde há mais problemas. Esse meio de campo entre atenção primária e hospitalar é a grande dificuldade do sistema. Para crianças com deficiência, em um modelo em que elas vão ter uma vida social muito maior do que tinham no passado, em grande medida graças às escolas, que preenchem a vida delas por mais de uma década, tudo isso depende muito de você ter uma atenção secundária da saúde. Nos protocolos médicos do SUS, a questão das crianças e jovens com deficiência praticamente não tem lugar. A assistência tem feito um esforço, não só porque há um programa de distribuição de renda vinculado a isso, mas porque tem buscado um pouco mais a família. E a saúde que, paradoxalmente, é o sistema mais bem desenvolvido entre os três, para esse público parece estar muito ausente.
Você enxerga alguma outra área que possa agir nessa articulação intersetorial?
Essas três são as áreas setoriais básicas. O que se pode é tentar convencer mais o núcleo político, as Secretarias da Fazenda ou de Finanças, para que deem mais atenção.
E a acessibilidade física dos locais, por exemplo?
Nós acompanhamos a política a partir da educação. Vimos muito mais avanços em termos de infraestrutura do que pedagógicos. É muito mais fácil para as escolas, e também para explicar politicamente e mostrar ao grande público, mudar toda a estrutura de mobilidade das crianças com deficiência. Há escolas que trabalham, por exemplo, com restrições sonoras por causa, sobretudo, das crianças com TEA. Tem havido mudanças na estrutura dos prédios, ainda que menos do que o ideal. As mudanças pedagógicas são mais complicadas, do mesmo modo que a mudança vinculada à articulação e à governança intersetorial. Porque a educação são várias coisas ao mesmo tempo. Tem de se preocupar com a educação inclusiva no caso das crianças com deficiência, com a questão racial, com a alfabetização e com a primeira infância, desafios que no Brasil andam muito devagar. O mundo da educação é muito grande e a capacidade de ele se articular geralmente se dá por fatias da educação, não pelo seu conjunto. E a fatia da educação inclusiva, que é a relacionada a crianças e jovens com deficiência, é mais recente na política pública. Na Constituição de 1988, isso praticamente não aparece, é quase um não tema. Foi algo que foi sendo construído pela sociedade e só foi se consolidar no final da primeira década do século 21. É uma política que exige um material humano que as faculdades de pedagogia não formam.
Quem poderia formar esses profissionais?
Essa é uma questão importante. De um lado, qualquer política de diversidade é uma combinação de singularidade e inclusão. A singularidade requer um tipo de atenção especial; no caso da questão racial pode ser o currículo, discutir a história da África e afro-brasileira; para as crianças e jovens com deficiência é preciso ter auxiliares que ajudem os professores em uma série de atividades, uma mão de obra específica, mas também é preciso ter inclusão. A questão formativa pede gente habilitada a trabalhar com as singularidades, ou seja, que saiba como lidar com crianças cegas, surdas, com TEA, TDAH etc., mas é preciso ter um professor, que é o professor regente, que saiba incluir, não só nos espaços de singularidade. Isso significa que a formação do profissional nesse campo envolve em alguma medida a combinação dessas duas coisas gerais e específicas. A pergunta que fica é esta: quem vai formar esse profissional? Se olharmos os currículos de pedagogia, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, o tema praticamente não aparece. Ele surge mais em programas de pós-graduação e de especialização.
E as universidades?
Precisamos voltar a conversar com as universidades, porque houve uma enorme mudança no perfil da sociedade e suas demandas, e a universidade não tem formado profissionais para esse novo mundo em várias coisas. Os municípios, sozinhos, não conseguem resolver a questão do capital humano. Se as redes e as escolas não se articularem com os centros formadores, a capacidade que temos de mecanismos de gestão — por desempenho, colaborativa, o que for — fica limitada em função dessa carência. Se quisermos fazer uma grande mudança nessa área, os governos federal e estaduais têm de dialogar com as universidades. Ter programas de indução para formar gente qualificada e, conjuntamente, fazer a formação continuada. Até porque parte da formação continuada deve vir das universidades.
A isso a gente deve acrescentar os professores que já estão no sistema, dos quais 94% não tiveram esse tema na formação continuada. Mesmo entre os docentes do Atendimento Educacional Especializado (AEE), apenas 55% tiveram essa formação.
O que é pouco nesse caso. Deveríamos estar próximos de 70%, 80%. Ou seja, temos esse problema e, quando pensamos na história do funil, a situação se complica mais, porque, a partir dos anos finais do ensino fundamental, os estudantes não têm um ou dois professores, mas um conjunto deles. Se a formação pedagógica — inicial e alguns tipos de pós-graduação — não aborda a educação inclusiva, imagine para o professor de física ou de matemática. E um terceiro ponto: não só precisamos de profissionais que lidem com a singularidade e com a inclusão ao mesmo tempo na escola, mas também é necessário ter isso na intersetorialidade.
A assistência social é composta basicamente por profissionais do serviço social. A área de saúde por gente de enfermagem, fisioterapeutas e médicos. Nos programas de formação inicial deles essa temática não está presente. Então, há três problemas formativos para os profissionais de educação inclusiva. O primeiro tem a ver com a formação dos pedagogos e a combinação de singularidade e inclusão, inclusive na formação continuada; em segundo lugar, isso é difícil para os professores, pois quando você vai avançando no funil [na passagem entre os níveis educacionais], menos chances há [de terem tido capacitação em educação especial] entre os docentes de outras licenciaturas disciplinares; e, terceiro, em relação aos profissionais de intersetorialidade.
Como a formação de gente jovem ainda vai demandar um tempo, acho que podemos resolver boa parte disso com gigantescos processos de formação continuada. Podemos pegar o exemplo do Alavancas, que em parte é isso. É um processo que, no seu primeiro ano, foi para os atores escolares; no segundo ano, para os atores das secretarias, em um nível muito pequeno, com dez municípios, nenhum deles grande. Só que isso precisa ser feito em larga escala, o que implica pensar no tema central, da governança federativa. Do ponto de vista da União, é necessário ter um grande programa de indução à formação continuada para educação inclusiva, vinculada às crianças e jovens com deficiência, sendo necessário que os governos estaduais façam um grande esforço, pois os municípios-padrão não conseguirão fazer essa formação continuada. Haverá apenas um ou outro município rico que conseguirá.
A formação docente acaba sendo sempre o ponto de convergência para a maioria dos nossos problemas. No caso da inclusão, ela pode vir associada a outro fator?
Primeiro tem de vir associada à formação também dos gestores. Tanto dos gestores escolares como dos gestores de secretarias, o que é um desafio brutal. Mas se eles não estiverem alinhados, a vida do professor sempre será mais difícil. Mas sobretudo esse programa não deve ter apenas “o quê”, tem de trazer também o “como”. Esse é o grande desafio. O “o quê”, de um modo ou de outro, está se espalhando pelo Brasil, há uma consciência sobre isso. O “como” é o difícil. Terceiro, isso precisa ser feito em articulação com a vida escolar. Coisa que só terá chance de acontecer se o professor der aula apenas em uma escola. O Brasil fica discutindo escola de tempo integral, uma discussão que nem existe na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá ou na Austrália, porque é incompatível com a atividade de formação de crianças e jovens, uma das coisas mais importantes em qualquer sociedade. [Nesses lugares, é inconcebível] imaginar um professor que dá aula em duas, três ou quatro escolas.
Se você tem um grande problema nacional de formação profissional para a educação inclusiva e todos os seus professores, ou 80% deles, dão aula em apenas uma escola, vai ser fácil identificar o desafio contextual daquela unidade. Já se você tiver muitos professores “auleiros” (pegando emprestado o termo criado pela pesquisadora Gabriela Moriconi, da Fundação Carlos Chagas), perde-se muito em formação continuada. Mesmo quando os processos são bem feitos, com bons formadores e investimento, quando isso desce para o chão de escola, com professores que mudam muito de instituição, a capacidade de absorver uma tecnologia gerencial e pedagógica de educação inclusiva torna-se menor. Esse programa de formação continuada tem de ter uma governança federativa, uma grande articulação para pensar o “o quê” e o “como” e — esse é um ponto central — políticas que permitam uma carreira mais estável para os profissionais da educação. No Brasil as escolas são fracas porque os seus profissionais têm uma carreira muito instável.
Assim como a formação inicial, outra questão que está posta faz muito tempo para a resolução de muitos problemas é esta, de ter professores com dedicação inclusiva em tempo integral.
Isso é imprescindível. Basta olhar a distribuição da carga horária dos professores no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os programas de formação continuada têm dado mais certo no Brasil para os anos iniciais do ensino fundamental do que para os anos finais do ensino fundamental, há estudos que dizem isso. Vimos essa realidade na parte empírica, por conta da desigualdade e das questões município-estado, como comentei antes. Olhando para a realidade municipal, em que 70% dos municípios têm até 20 mil habitantes, há mais chance de ter professor de tempo integral nos anos iniciais do ensino fundamental, em função da distribuição das escolas. Pelo menos há menos dispersão. Nos anos finais do ensino fundamental, a coisa explode, pois os docentes vão dar aula em duas, três ou quatro escolas. No Ceará, eles fizeram vários programas de governança colaborativa entre estado e municípios, e quando chegou a discussão sobre escola de tempo integral, veio o debate: por onde a gente começa? Pernambuco começou pelo ensino médio e alguns municípios ricos do Brasil começaram pelos anos iniciais do ensino fundamental. Eles [no Ceará] tomaram uma decisão muito corajosa, incluindo um processo de indução no qual quem faz mais ganha mais dinheiro no orçamento: começar a escola de tempo integral nos anos finais do ensino fundamental, porque é ali que a coisa se perde, ali que eles vão [forçar para] ter o professor só em uma escola. A ideia é universalizar o tempo integral nessa etapa em um processo de cinco a seis anos. No ensino médio, eles pegam algum dinheiro do governo federal e vão fazendo aos poucos. Se forem bem-sucedidos, isso terá efeito inclusive na educação inclusiva, pois há essa discussão da perda de estudantes — embora o sistema dos anos finais do ensino fundamental no Ceará seja 95% municipal. Mas não é a perda de que falávamos antes, do estado que não conversa com o município, é a perda porque o professor dava aula em mais de uma escola. Eles sempre falam que deram certo na alfabetização porque as escolas eram praticamente instituições de tempo integral. Isso é central se quisermos fazer uma mudança mais geral na educação brasileira. Mas, no nosso caso, é para reduzir o funil.
Como você vê a questão da judicialização pretendida pelas famílias para ter o profissional de apoio? A articulação federativa pode ajudar nisso?
Em primeiro lugar, o governo federal precisa ajudar estados e municípios a terem mais profissionais qualificados. Mesmo se não houvesse a judicialização, a demanda é muito maior do que a oferta. A judicialização é um fenômeno relativo a políticas públicas em várias áreas, como na saúde. Há um grau de judicialização relacionado à carência da garantia do direito. Quem judicializa são as famílias vulneráveis. Na educação, isso está engatinhando. Temos de achar mecanismos para falar com as famílias. No caso dos mais pobres, quem pode fazer isso é a assistência social. Por isso, a governança intersetorial é muito importante. Você tem de chegar antes que o problema apareça. Vou lembrar o Programa Criança Feliz [que previa visitas a famílias de baixa renda para orientar sobre questões de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos para crianças de zero a seis anos], uma iniciativa muito correta, por mais críticas que tenha sofrido. Tinha implementação ruim porque foi na época do teto de gastos, não tínhamos muito dinheiro, mas a ideia era correta. Depois o Bolsonaro destruiu isso, como outras coisas. Mas tem de ter um programa preventivo desde os seis meses de idade. É antes de chegar à escola que alguns tipos de deficiência se manifestam, mas as famílias ainda não sabem. Se conseguirmos fazer esse trabalho prévio, articulado com a educação, é provável que esse problema se reduza.