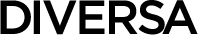“Vivemos em um país que produz deficiências a partir da desigualdade e do racismo”
Ativista pelos direitos das pessoas negras com deficiência, Luciana Viegas defende uma educação inclusiva interseccional, ou seja, que considere os diferentes fatores sociais que definem um indivíduo

Jovens negros com sequelas provocadas pela violência policial e crianças com microcefalia em decorrência do Zika vírus têm um ponto em comum: em ambos os grupos é grande o número de pessoas com deficiência. “É o retrato de um Estado ausente, que produz deficiências a partir da desigualdade e do racismo”.
A constatação forte e urgente é da pedagoga e ativista Luciana Viegas, co-fundadora do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam (VNDI Brasil), que se propõe a fazer advocacy para pensar e pautar políticas públicas que considerem as necessidades de pessoas negras com deficiência, o que inclui ações para combater o racismo e o capacitismo, barreiras recorrentes para esse público.
Em 2020, aos 25 anos, após o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) do seu filho, Luciana confirmou estar também dentro do espectro. Ela então criou o perfil “@umamaepretaautistafalando“, no Instagram, hoje com mais de 24 mil seguidores, além de outros 26 mil na rede social X, antigo Twitter.
“Quando estamos com um médico que não liga para o debate de raça, ele não entende que a experiência de uma pessoa negra é completamente diferente da experiência de uma pessoa branca e acaba caindo em padrões sobre o autismo”, pontua. “Por isso é preciso pensar em políticas públicas interseccionais, que abranjam toda a população e levem em conta as múltiplas identidades do sujeito.”
Mãe de duas crianças, Luciana concedeu entrevista exclusiva ao Diversa sobre os desafios da população negra com deficiência. Ela analisou as políticas de educação inclusiva em vigor hoje no Brasil e defendeu que elas só serão efetivas quando forem elaboradas junto com a sociedade.
Como e quando você teve seu diagnóstico?
Tive meu diagnóstico a partir do meu filho autista. Quando ele foi para a terapia, passei a me reconhecer, porque lá vemos as potencialidades e as ausências. Percebi que éramos muito mais parecidos do que eu imaginava. Foi aí que comecei a entender o autismo em mim. Mas, claro, isso foi um processo que levou dois anos. Primeiro, pensei: “Será que estou tão envolvida com a questão do meu filho a ponto de me enxergar nele?” Então, fui procurar um médico, contei com a sensibilidade de profissionais do SUS que já me acompanhavam e chegamos ao diagnóstico.
Que tipo de questão de saúde você já acompanhava?
Tenho uma enxaqueca severa e um histórico de bipolaridade e depressão. Agora estou tratando uma gastrite. Procurei a avaliação neuropsicológica, fiz testes e tive o diagnóstico de autismo com altas habilidades, superdotação e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
Talvez, se não tivesse passado por esse processo com meu filho, não teria meu diagnóstico. Isso mesmo contando que nunca fui resistente aos tratamentos. Pelo contrário, sempre me submetia a todos, porém já estávamos ficando sem opção. Não sei se estaria viva se eu não tivesse um filho autista.
Como e por que você se envolveu na criação do movimento Vida Negras com Deficiência Importam? Qual a proposta do movimento?
O VNDI nasce da pergunta: onde estão as pessoas negras com deficiência? Eu queria ter referências para o meu filho e não encontrava representatividade. Não havia nenhum movimento organizado no Brasil pensando nisso. Eu poderia ter idealizado uma organização de pessoas negras autistas, que é a minha realidade, mas, quando comecei a conversar com pares com outras deficiências, vi que era tudo muito parecido. Percebemos que era preciso um movimento organizado que trouxesse essa pauta coletiva. Considerando isso, idealizamos em conjunto o VNDI.
Quais as principais bandeiras do VNDI? Por que a escolha de não segmentar o movimento em um único tipo de deficiência?
Obviamente cada um vai ter a experiência da deficiência de maneira individual, mas, quando falamos de raça, percebemos, lá no início das nossas conversas para criação do VNDI, que as pessoas negras com as mais diversas deficiências sofrem o mesmo tipo de opressão racista na sociedade. O racismo é um fio condutor que nos atravessa e faz com que uma dupla discriminação chegue a nós. Estamos, portanto, falando de algo estrutural, por isso criamos esse movimento único.
Queremos criar e construir relações com outros movimentos anticapacitistas. Nosso principal foco para o próximo ano é formar lideranças, que hoje são impactadas diretamente pelo capacitismo e pelo racismo, para pautar políticas públicas e soluções para a opressão e a discriminação. Também temos atuado, nacional e internacionalmente, para fortalecer redes com outros movimentos que debatam etnia e deficiência, para que possamos pensar em estratégias do Sul global para superação de problemas.
Você identificou barreiras de raça, gênero e classe que dificultaram seu processo de diagnóstico?
Sim. O autismo era sempre descartado no meu caso pela maioria dos profissionais e isso não é só resultado do capacitismo. Se pararmos para pensar, eu não sou a cara do autismo. Sou uma mulher negra da periferia, e o autismo é uma deficiência que tem gênero, raça e classe [masculina, branca e com poder aquisitivo].
Vale sempre lembrar que o diagnóstico é feito por médicos. E ser médico e exercer medicina no Brasil é uma construção branca, europeia, extremamente elitista e que muitas vezes não leva em consideração a subjetividade e o contexto social.
E não levar em conta o contexto social na hora do diagnóstico é algo especialmente problemático para as pessoas negras?
O autismo é um diagnóstico clínico. O médico precisa ter elementos e ver em você características para poder diagnosticar. Para isso, ele parte de padrões pré-estabelecidos. Aí eu pergunto: quem foram as pessoas que deram origem a esses padrões? São testes que levam em consideração o Norte global, a Europa. É importante entender isso.
Vou dar um exemplo: o senso comum diz que nenhum autista interpreta expressões faciais. Isso é um padrão, mas que vale sobretudo para autistas brancos. Eu sou uma mulher negra da favela, que sofre racismo desde os cinco anos. Não entendo flerte, subjetividades e piadinhas, mas entendo quando a pessoa é racista.
Quando a gente está com um médico que não liga para o debate de raça, ele não entende que a experiência de uma pessoa negra é completamente diferente da experiência de uma pessoa branca, e acaba caindo em padrões sobre o autismo. Mas quando vamos para um profissional que avalia o contexto, ele sabe que o racismo é algo que nos violenta e que aprendemos a entendê-lo para nos preservar.
Há também impactos de classe no processo de diagnóstico?
Sim, e meu caso é um bom exemplo: apesar de ter tido um prognóstico pelo SUS, levei dois anos juntando dinheiro para pagar a neuropsicóloga. Isso porque eu sou uma pessoa que trabalha, assalariada. E quantas mulheres negras não são?
O autismo é algo extremamente elitizado. Um cordão de girassol [usado para identificar pessoas com deficiências não visíveis] não custa menos de R$ 50, e um abafador de ruído não fica por menos de R$ 60. A vida de uma pessoa com deficiência no Brasil é cara, e isso é um problema de classe, porque a pessoa precisa de um suporte que não tem e passa a vida sendo extremamente marginalizada.
De que modo o racismo estrutural impõe barreiras para garantir direitos para pessoas negras com deficiência?
Eu acho que o racismo não só impõe barreiras como ele é a principal barreira. No Brasil, o racismo é muito sutil, porque está na construção desse país. Tudo o que a gente conhece aqui tem sangue de pessoas negras. Nossa economia foi construída à base da tortura da população negra. E nosso país não é bem resolvido com esse passado, tanto que não temos políticas de reparação. O que temos hoje é apenas uma política de cotas: os brancos têm absolutamente tudo, e os negros ficam só com uma parte daquele todo que construíram. Isso não me parece justo.
Essa dinâmica imprime na sociedade, consciente ou inconscientemente, uma maneira própria de se organizar. Quando a gente fala de garantia de direitos, primeiro é preciso dar alguns passos para trás para entender que a população negra com deficiência é sujeito de direitos.
E como pensar em políticas públicas para pessoas negras com deficiência que de fato avancem na garantia de direitos?
Vivemos em um país que produz deficiência a partir da desigualdade e do racismo, e as provas disso são, por exemplo, a violência policial, que coloca as pessoas em cadeiras de rodas [no último ano, os negros foram 83,1% das vítimas de intervenções policiais, a maioria deles entre 18 e 24 anos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública] ou as crianças com microcefalia em decorrência da Zika, por falta de saneamento básico [entre 2015 e 2016, pico de ocorrências, foram notificados 12.716 casos suspeitos; esse número diminuiu, mas continua sendo uma realidade no país: em 2022, foram 419 casos, segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde]. Esse é o retrato de um Estado ausente, que produz deficiências. ;
Quando se cria políticas públicas, é preciso estar atento a essa realidade. Existem políticas, por exemplo, para ampliar a presença de negros na universidade pública, mas as pessoas negras que têm deficiência não acessam a política de cotas raciais, apenas as cotas para pessoas com deficiência. Elas, porém, vão disputar com pessoas brancas com deficiência, que tiveram oportunidades que as negras não tiveram.
Por isso, é preciso pensar em políticas públicas interseccionais, que abranjam toda a população e levem em conta as múltiplas identidades do sujeito. Uma pessoa pode sofrer diversos atravessamentos e discriminações. É muito importante entender isso para pensar políticas que de fato avancem, e nós, enquanto VNDI, temos tentado fazer isso no diálogo e na articulação com outros movimentos sociais.
Falando sobre políticas públicas, como você avalia a educação inclusiva no Brasil? Quais os principais avanços e desafios?
A impressão que tenho é de que importamos muitas metodologias de países que não têm a mesma realidade que a nossa para tentar dar conta desse desafio. A bola da vez são as metodologias ativas e, dentro delas, a rotação por estações [em que os alunos percorrem um circuito no qual cada estação tem uma atividade diferente]. Para minha filha que não tem deficiência, esse modelo em que são criados territórios de exploração funciona. Meu filho, uma pessoa com TEA, não liga para o ambiente e vai perder oportunidades educativas se só esse modelo for adotado. A grande questão é pensar: a quem servem esses modelos? Isso porque toda metodologia de educação, quando é tida como exemplo, vira um produto no mercado.
Mas um grande avanço, na minha opinião, é o fato de o Brasil estar tentando fazer as pazes com o conceito de educação inclusiva. É preciso discutir, defender e resolver o que de fato entendemos como educação inclusiva.
E qual conceito de educação inclusiva você defende?
Obviamente não é o da educação segregada, mas acho que a gente ainda não tem um modelo ideal no Brasil. É necessário pensar uma educação inclusiva que não olhe para o aluno como um problema, mas como uma potência; que enxergue as barreiras que podem ser derrubadas ou adaptadas para que esse estudante consiga alcançar o sucesso. E o sucesso também não deve ser meritocrático.
Um modelo que acredito ser especialmente interessante é o da bidocência [atuação de dois educadores em uma mesma sala de aula, trabalhando juntos de maneira colaborativa]. Nela, um professor aprende com o outro, e tiramos o docente do papel de ser o único responsável por dar conta da sala. Eu, como uma professora com deficiência, aprendi muito na bidocência e acho que pode ser um caminho para a educação inclusiva.
Acho que avançaríamos muito se implantássemos de forma efetiva a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (PNEEPEI).
Quais pontos específicos da PNEEPEI você considera bons e quais deveriam melhorar?
Eu não tenho crítica à política da maneira como ela está escrita, porque ela dá uma noção importante do que a gente quer alcançar. A questão é ela ser concretizada, porque, quando estamos em sala de aula, não temos como exigir muita coisa só porque existe uma política. Minhas críticas são mais pelo fato de ela não ser divulgada e de diversas secretarias de Educação não levarem esse documento em consideração, ou sequer conhecê-lo. Para avançar, falta investimento, aposta em formação continuada para os professores e tempo. Não tivemos tempo de colher todos os frutos dessa política em um país continental como o nosso.
Dos pontos positivos, apesar de ser destinada às pessoas com deficiência, a Política Nacional amplia o entendimento de quem é seu público-alvo e para quem se direciona a educação inclusiva. Ela abre o leque: uma pessoa que não tem deficiência ou superdotação pode ser abraçada pela Política, o que é fundamental para quem não tem laudo, mas tem alguma questão que impede o aprendizado pleno. Ela olha para o aluno de forma mais complexa.
Como podemos fortalecer e garantir a aplicação dessa política?
Temos a importante missão de debater amplamente que educação inclusiva queremos construir, mas trazendo as famílias para esse debate. Se não promovermos essa conversa dentro das periferias, com o conjunto da população, vamos continuar nos apoiando em metodologias estrangeiras que propõem soluções para problemas estruturais do nosso país, como a desigualdade social, a violência e a pobreza. A escola não tem e dar conta desses problemas, pois eles são de responsabilidade de outras áreas e secretarias dos governos.
Nesse movimento, é fundamental também entender as interseccionalidades de raça e classe quando falamos em educação inclusiva. Não dá para fazer educação inclusiva sozinho. Precisamos de toda a sociedade engajada no combate ao racismo e ao capacitismo.
Há hoje no Brasil redes de ensino com um modelo de educação inclusiva eficiente?
Para dar um bom exemplo, a secretaria deveria estar fazendo mais do que o básico, principalmente em locais com mais recursos e potencial de investimento. É muito injusto comparar uma secretaria de Educação do Sul com outra do Norte, em que há menos investimento. Acabamos caindo na lógica meritocrática que criticamos, por isso me sinto injusta apontando esses “bons exemplos”.
Seu filho estuda em escola pública? Quais barreiras e avanços você já presenciou ou precisou enfrentar?
Sim, ele estuda em escola pública. Apesar das críticas, sempre soube que os diretores e os professores das escolas públicas das periferias eram muito dedicados. A escola dele é extremamente dedicada e aberta à comunidade. Lá se discute racismo e capacitismo de maneira profunda, com base no Projeto Político Pedagógico (PPP). Tem sido muito proveitoso, ele tem avançado muito. É uma situação bem diferente das primeiras escolas em que estudou, onde não havia entendimento sobre educação inclusiva e, com base nesse desconhecimento, alguns direitos eram negados ao meu filho, como a contratação de um profissional de apoio dentro da sala de aula. Enquanto isso, ele foi ficando de fora do processo educacional.
Por isso, é importante pensar a educação inclusiva considerando o que acontece dentro das escolas e das cidades pequenas. Eu pude mudar de cidade, mas há outras pessoas que não podem. Agora não tenho uma luta para enfrentar, mas, quando meu filho for para o ensino médio e mudar de escola, terei outra luta pela frente.
Sempre me pergunto: como é essa situação para famílias que não têm nenhum suporte e estão em locais que negam direitos aos seus filhos com deficiência? Que alternativa nós damos para essas famílias?
No Brasil, ainda há pouca produção de conhecimento sobre a intersecção entre gênero, raça e deficiência? O que falta para ampliar essa discussão na academia?
O debate interseccional é a bola da vez. Se fala muito em interseccionalidade, mas, na minha opinião, falta aprofundamento. Tenho a sensação de que se debate interseccionalidade porque esse assunto está em alta e é o que as pessoas querem ouvir. Mas não para tentar eliminar as desigualdades e entender, por exemplo, o porquê de as mulheres negras com deficiência não terem suas trajetórias educacionais respeitadas ou o porquê de os meninos negros com deficiência não estarem acessando o ensino superior. Acho que essa ainda é uma ausência.
O debate sobre educação inclusiva está pautado na ciência, mas a crítica que faço é que muitas vezes a academia estuda deficiência para pensar na sua correção, e não na diversidade. Precisamos de um olhar mais aberto e mais amplo para não estudar deficiência para cura ou para correção, mas sim para o desenvolvimento de habilidades e potencialidades, por meio de uma educação libertadora, que construa autonomia e felicidade.