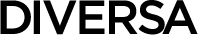A palavra “empatia” tem sido mais e mais usada a cada dia, sendo definida vulgarmente como “a capacidade de se colocar no lugar do outro”. Ora, essa definição contém riscos e vamos tentar explorá-los um pouco neste texto, para entender como a escola inclusiva precisa extrapolar o homogêneo e enxergar o diferente.
Comecemos com um exemplo de Tuca Munhoz, ativista dos direitos das pessoas com deficiência e cadeirante. Nas palavras dele, em depoimento em rede social:
Hoje, em mais um dia de treinamento na rua, enquanto subia uma rampa, percebi que alguém me empurrava. Brequei a cadeira imediatamente e disse à pessoa, no caso um rapaz, que estava treinando e que não queria ser empurrado. E que ele deveria sempre perguntar antes de tomar uma iniciativa como essa. Admito que falei tudo isso de minha maneira ranzinza. O rapaz ficou muito bravo, não tanto por minha rabugice, mas sim porque ele teve frustrada sua oportunidade de ajudar, que, sem dúvida, era muito mais importante para ele do que para mim. Mesmo se eu precisasse!
Qual o problema da atitude do rapaz? Não estaria ele sendo “empático” ao se colocar no lugar do autor em seu esforço para subir a rampa? Não estaria sentindo suas dificuldades e se doando para ajudá-lo? A verdade é que não. Por trás da pretensa empatia, havia uma incapacidade de ver o outro verdadeiramente.
Esse relato ilustra o problema da definição banal de empatia como “colocar-se no lugar do outro”. Trata-se de um ato impossível. Não temos instrumentos ou capacidade psíquica para tanto. O ser humano pode sensibilizar-se e pode se identificar com o outro de forma a compreender, a partir de sua própria experiência, que o outro também é um ser humano. No entanto, ele nunca poderá realmente se colocar no lugar do outro, pois suas histórias de vida, suas identidades e mesmo suas características biopsicossociais nunca coincidirão.
Empatia: a compreensão da igualdade e da diferença
É imprescindível que saibamos que o outro é diferente de nós. Ele tem suas próprias expectativas, desejos, habilidades e valores. E só teremos certeza de que nosso pensamento coincide com o dele por meio de um ato bastante simples e, no entanto, extremamente complexo e pouco utilizado: relacionando-se com ele.
A empatia serve para “desobjetificar” o outro, para vê-lo como sujeito e para que o coloquemos, simbolicamente, fora de nós. Ela é essencial para que possamos compreender o outro como um ser autônomo, não como um mero reflexo de nós mesmos. Essa compreensão é essencial para que percebamos a diferença.
Não é um movimento simples, no entanto. Colocar-se nesse lugar significa conceber a existência de um outro, diferente de nós. É um movimento duplo: percebê-lo como ser humano – igual a mim – e percebê-lo como outro – diferente de mim. Só há empatia quando existe a compreensão da igualdade (de poder ser, existir, ter direitos) e da diferença (de necessidades, desejos etc.) simultaneamente.
Homogeneidade, narcisismo e a negação da diferença
A mente humana, no entanto, tende a buscar a homogeneização. Ora, se o outro é igual a mim, eu não preciso ter medo de não ser aceito, de ser expulso, de não ser compreendido. Na busca por aceitação universal, combatemos a diferença e nos reduzimos à semelhança. É nossa herança narcísica: o mito de que todos são iguais a nós acabaria com os conflitos.
Mas, apesar disso, um pequeno detalhe se mantém: continuamos diferentes. Negar essa distinção é agarrar-se ao narcisismo e ver a todos como espelhos de nós mesmos. Como dizia Caetano Veloso: “Narciso acha feio o que não é espelho”. E uma consequência dessa negação é a objetificação do próximo. Aquele que é diferente deixa de ser sujeito humano e passa a ser objeto, a não ter mais desejo próprio, nem necessidades, nem valores, nem direitos, nem potencial. Parece-se conosco, mas não é humano. Deve ser evitado, excluído, apartado e, de preferência, esquecido.
Essa forma de perceber o desigual foi chamada por Sigmund Freud de “narcisismo das pequenas diferenças”. Suas características mais marcantes são:
• A imposição da minha realidade sobre a realidade do outro;
• Pouca solidariedade e sentimento de estranheza e de hostilidade em relação a quem expõe a diferença (para uma visão rápida sobre o assunto, sugiro a leitura do artigo Três versões do narcisismo das pequenas diferenças em Freud).
No primeiro aspecto, ao invés de interagir com o próximo, partimos do princípio de que nossos pensamentos coincidem, o que nos leva a acreditar que um só tratamento servirá a todos. Justificamos, assim, nossas aulas homogeneizadas, voltadas para um “aluno padrão”. No entanto, esse ser humano ideal sempre se confunde com a compreensão que temos, cada um de nós, da humanidade. Ensinar, nesse contexto, é repetir para si mesmo aquilo que já se sabe, da forma que já se sabe, no modelo que já deu certo.
A segunda característica desse narcisismo nos faz estranhar e atacar todo aquele que não ratifica nosso pensamento. Quem não aprende da mesma forma se torna, então, o problema a ser hostilizado, aquele que não devia estar ali. Não porque ele não pode aprender, mas porque nega nossa igualdade e nosso narcisismo.
Conhecer antes de ensinar
É importante aprofundarmos a ideia de narcisismo: estamos falando de um conceito específico, diferente daquele que, no senso comum, confunde-se com o egoísta ou o egocêntrico. Não se trata de uma característica da racionalidade e da escolha consciente, mas de uma falta mais profunda: nosso medo da solidão, nosso pavor da loucura, nosso desejo de sermos amados e reconhecidos. É necessário muito investimento para nos darmos conta de que caímos na armadilha narcísica de acreditar que devemos ser iguais para sermos amados. É uma reflexão diária frente ao outro. Não o excluímos por maldade, mas pela crença nesse mito de pertencimento dentro da massa homogênea.
De certa forma, evitamos a diferença por ignorarmos a nós mesmos, num mundo massificado que tenta minar nossa potência, fazendo-nos acreditar que somos inúteis frente ao tamanho da vida ou à opressão da sociedade. Nesse sentido, aceitar o outro é aceitar sua própria capacidade de mudar, de fazer a diferença, de tornar-se humano.
É esse o convite que gostaria de fazer ao leitor: compreender que é no espaço construído entre as diferenças de um para outro que se torna possível ensinar. Esse espaço surge quando percebemos que, para levar conhecimento ao outro, precisamos primeiro conhecê-lo: ouvi-lo ao invés de diagnosticá-lo; perceber suas necessidades individuais ao invés de massificá-lo, admitir suas diferenças para construir uma relação de aprendizagem.
Augusto Galery é doutor em psicologia social, pesquisador do Laboratório de Estudos em Psicanálise e Psicologia Social (LAPSO) da Universidade de São Paulo (USP) e professor do Centro Universitário Fecap. Foi colaborador do Instituto Rodrigo Mendes até 2015.
© Instituto Rodrigo Mendes. Licença Creative Commons BY-NC-ND 2.5 Site externo. A cópia, distribuição e transmissão dessa obra são livres, sob as seguintes condições: Você deve creditar a obra como de autoria de Augusto Galery e licenciada pelo Instituto Rodrigo Mendes Site externo e DIVERSA.