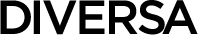Nathália Meneghine: aprendizagem exige construção de vínculos
“Sou bastante firme: não recebo diagnóstico na minha sala, eu recebo estudante. É isso o que guia a minha prática”, enfatiza a professora regente e também do AEE de MG
“Eu tenho muita alegria em ir à escola”, diz Nathália Meneghine, professora regente e também do atendimento educacional especializado (AEE) na Escola Municipal (EM) Professor Oswaldo Velloso, em Juiz de Fora (MG). “A sala de aula é um lugar maravilhoso, de bons encontros e de muita potência”, completa. Há 23 anos na área, Nathália credita à educação inclusiva sua satisfação com o trabalho.
Para ela, considerar que toda pessoa aprende e que o processo de aprendizagem de cada uma é singular — alguns dos princípios da educação inclusiva — ampliou possibilidades. “Me colocou em uma posição de abertura para o outro, algo que eu tento preservar, de não ter condicionantes para receber um estudante e de me arriscar no trabalho com ele.”
Nathália conta ter acompanhado as discussões sobre educação inclusiva desde o início de sua atuação em sala de aula, após ter feito magistério. “Tive muita sorte de iniciar minha trajetória em um lugar no qual já ocorriam discussões sobre o direito à educação. Meus colegas professores e eu não discutíamos individualizando as questões, mas sempre pensando nas estruturas, na situação de vulnerabilidade que os alunos da nossa escola enfrentavam. Depois elaborei tudo melhor. Mas, já naquela época, entendíamos que não era apenas a deficiência que indicava diferença, mas que os marcadores sociais, como raça e classe e as questões de gênero, também estavam presentes”, comenta.
Ela relembra que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (PNEEPEI) só viria em 2008, mesmo ano em que se formou em psicologia no Centro de Ensino Superior (CES). No entanto, as discussões sobre educação inclusiva começaram antes, com o movimento provocado pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006). Quando a política começou a ser implementada, Nathália aproveitou as formações oferecidas pelo Ministério da Educação (MEC). “Foi um tempo em que o governo investiu muito na formação de professores, e eu bebi dessa fonte, mergulhei no tema, participei de todos os seminários e fiz todos os cursos. Eu vi que, se não for na perspectiva inclusiva, não é educação”, afirma a professora e psicóloga, que depois fez especialização em educação na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS).
Inserida nos cursos sobre educação especial e atendimento educacional especializado (AEE) , Nathália trabalhou em duas ocasiões dentro da secretaria municipal de educação (SME): em um centro de AEE e no departamento de educação especial do município, no período em que estavam organizando o serviço dos profissionais de apoio escolar . Também teve uma experiência na secretaria de assistência social, na supervisão da política de acolhimento institucional. Na educação, já trabalhou na educação de jovens e adultos (EJA) antes de voltar à sala de aula, em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental.
Hoje na EM Professor Oswaldo Velloso, Nathália trabalha como professora regente de uma turma de 2º ano no período da tarde. Pela manhã, é professora do AEE e atende 15 crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. No total, a escola tem 50 estudantes com deficiência e dois professores do AEE. Também coordena dois grupos de estudos sobre educação inclusiva, que reúne semanalmente educadores de várias regiões do país para discussões online.
Na entrevista ao DIVERSA, que marca o mês dos professores, Nathália reflete sobre o papel do AEE, defende sua presença em todas as escolas e discute os desafios de sua rotina para colocar em prática uma educação inclusiva e os benefícios desse movimento.
Você estudou em escolas inclusivas?
Durante todo o ensino fundamental, estudei em escolas particulares e confessionais. Portanto, praticamente todos com quem convivi eram da mesma classe social e raça. Havia apenas uma pessoa negra na turma, de uma família com situação econômica privilegiada. E não me lembro de ter colegas nem professores com deficiência. Eram escolas com um funcionamento muito padronizado, com regras para uso de uniformes e ensino tradicional. Então, não é que a diferença não estivesse ali, porque hoje entendo que ela é inerente à condição humana. A multiplicidade já estava ali, mas ela não tinha lugar para aparecer. Todo mundo era chamado a se homogeneizar e havia pouco espaço para a singularidade.
Quando fui para o ensino médio, um outro mundo se abriu para mim. Eu sempre tive o desejo de ser professora, e o colégio de aplicação da universidade [Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora] era o único que oferecia magistério. Fiz a prova e passei. Era uma escola mais progressista. Não era confessional e nem tinha uniforme, por exemplo. Era um lugar onde a diferença podia aparecer, pois ninguém precisava diluir seu estilo ou seu modo de pensar para estar junto. Era uma escola pública com pessoas de diferentes classes sociais e cores. Foi onde tive contato com colegas com deficiência, poucos, porque era uma época na qual a segregação ainda era uma possibilidade. Os professores também tinham mais liberdade. Eles tinham uma relação mais afetiva com a gente, porque esse laço amoroso da educação podia aparecer. E isso me marcou muito. Eles eram muito dialógicos e havia muitas discussões sobre a função política do docente. Isso foi muito importante para a minha trajetória. Foi uma experiência muito libertadora e que se reflete na professora que sou hoje. Por exemplo, foi ali que decidi apostar na educação pública, contribuir com o meu trabalho nesse lugar. Por isso prestei concurso público assim que me formei.
A escola em que atua hoje é inclusiva? Quais são as características e princípios que sustentam sua afirmação?
A escola na qual eu trabalho tem se construído todos os dias na direção de se tornar uma escola inclusiva. Não é algo pronto. O que faz uma escola inclusiva é a sustentação dos princípios no miúdo do dia. Quais princípios são esses? São os de acesso, participação, aprendizagem e permanência de todas as pessoas. É considerar que todos aprendem, que não há hierarquia de inteligências; que a gente recebe o estudante, e não o diagnóstico; que o ensino é um ato coletivo, então, ele precisa ser de oferta ampla e diversificada.
Tudo isso a gente tem construído no miúdo dos dias e sustentado — porque é uma sustentação diária. Então, penso que sim, estamos nesse caminho. Há muitos pontos a avançar, mas temos uma discussão permanente por uma educação anticapacitista e antirracista. Isso tem nos ajudado a caminhar nessa direção da perspectiva inclusiva na educação. E vejo isso também porque não só os professores acolhem [os alunos], como os próprios estudantes acolhem uns aos outros. Não somos uma escola na qual há situações de rejeição, preconceito, isolamento e rechaço por uma característica ou por uma determinada condição. Os alunos compartilham o cuidado e a responsabilidade com o outro, seja ele uma pessoa com ou sem deficiência. E isso é um termômetro. Temos sido uma escola onde a diferença pode comparecer. Seguimos com tropeços e erros, mas com muito desejo de fazer uma escola para todos.
O que é o trabalho do AEE para você?
O professor do AEE tem o trabalho na sala de recursos multifuncionais, que é muito importante: atender o estudante no contraturno para experimentar e ajustar os recursos que podem ser utilizados para eliminar as barreiras identificadas. Mas ele não está reduzido a isso. A grande função do AEE, para mim, é a articulação com professores, gestão, demais funcionários, famílias e profissionais da saúde e da assistência social. O tempo do professor do AEE precisa ser pensado nessas duas dimensões, por isso acredito que ele deva estar o dia inteiro na escola, ser exclusivo. Acho, inclusive, que a política deixou a possibilidade de o AEE ser feito em centros especializados porque era um momento de transição, mas o objetivo sempre foi ter cada escola com seu AEE.
Qual o papel desse profissional para o desenvolvimento de uma cultura inclusiva nas escolas?
Para funcionar na sua plenitude enquanto serviço, considerando tudo o que pode ser oferecido, o professor do AEE precisa estar na instituição de ensino. Quando isso não ocorre, o que se observa é uma espécie de gambiarra. E digo estar [na escola] não para ficar apenas fazendo atendimento, o que seria entrar em uma lógica clínica de serviço, mas estar para circular pelos espaços, observar os estudantes nas aulas e nos demais ambientes e fazer articulações. Eu visito a sala de aula dos meus estudantes do AEE para que? Para observar se, por exemplo, aquele recurso de comunicação alternativa que eu instalei está sendo usado e se é funcional. Para saber como está a interação desse estudante com os colegas. Ele está se endereçando ao professor? Os professores se endereçam a ele? Eu preciso conversar com o professor para propor algum ajuste na didática ou na estratégia pedagógica?
Como AEE, visito a sala de aula pontualmente para observar, mas não fico lá dentro e nem assumo funções de docência. Também preciso acompanhar o que está acontecendo no recreio, se todo mundo está conseguindo brincar nos brinquedos do parquinho ou participar do intervalo. Existe algum recurso de tecnologia assistiva que eu preciso introduzir para garantir a alimentação desse estudante? Preciso articular com as cantineiras, com o pessoal responsável pela limpeza e, claro, com a equipe diretiva.
Na escola em que atua, você consegue realizar esse trabalho como acredita que ele deveria ser? Quais são os principais desafios?
Não como eu gostaria. O AEE é feito no contraturno. Aqui não tem essa de tirar o estudante da sala de aula para fazer o AEE. Às vezes, a gente faz ajustes, como quando a família tem dificuldade de ir e voltar. Nesses casos, oferecemos um horário intermediário para esse estudante já ficar na escola, almoçar e ir para o AEE. Mas o professor do AEE ainda não está presente no turno do estudante, porque os cargos, na nossa rede, são de 20 horas semanais. Esse é um problema. Coletivamente, enquanto professores do AEE, a gente já entregou um documento à secretaria pedindo isso [possibilidade de aumentar a carga horária]. Eles estão estudando.
Por enquanto, aqui na minha escola ficou estabelecido que a última semana do mês não tem atendimento na sala de recursos. Ela é dedicada à articulação. Mas isso é pouco efetivo, afinal esse tempo também acontece no contraturno, e as pessoas com as quais quero articular estão no outro turno. Então, utilizo esse horário da última semana para atender as famílias ou, às vezes, os profissionais de saúde e da assistência. Uso também para produzir material.
Como você faz a observação e a articulação?
Uso meu horário extraclasse [chamado em muitas redes de horário de trabalho pedagógico coletivo, o HTPC] de professora regente, o que é possível porque estou na mesma escola com dois cargos. Assim, no período da tarde, quando não estou em sala de aula como regente, faço observações nas turmas dos meus alunos do AEE e converso com os educadores. Também consigo acompanhar esses estudantes no recreio.
E quando você faz seu planejamento de professora regente, já que não usa o HTPC para isso?
Nos finais de semana e todo dia à noite.
Você acredita que ter AEE em todas as escolas, com dedicação exclusiva, é um dos desafios para a implementação de uma educação inclusiva ?
Sim. Nossa rede tem 37 mil alunos e 60 salas de AEE, ou seja, ainda não tem esse serviço em todas as escolas. Mas agora conseguimos aprovar uma lei municipal determinando isso e estamos aguardando que seja colocada em prática. De modo geral, é necessário um trabalho de convencimento sobre o quanto isso [ter o AEE] amplia o percurso das escolas no desenvolvimento de práticas inclusivas. Há um equívoco hoje. Está todo mundo centrado em pedir profissional de apoio escolar e pouquíssimas pessoas falando sobre o AEE.
Isso me parece ocorrer por causa do ranço da nossa cultura de procurar solução individual para pessoas com deficiência. Não vamos ter uma educação inclusiva se seguirmos a lógica da adição: mais profissional, mais cuidador. Deveria ser a lógica da transformação. E quem opera na lógica da transformação é o serviço do AEE, pois ele mexe na estrutura da escola. Ele foi desenhado para isso, para pensar nas possibilidades de aprendizagem e mudar como as coisas acontecem lá na sala de aula comum. Eu fico imaginando, por exemplo, a minha rede, que hoje tem quase 1,2 mil profissionais de apoio escolar. Se a gente tivesse um terço disso de professor do AEE, com dedicação exclusiva, estaríamos voando.
Como é sua relação com os professores regentes? E com a gestão?
Facilita muito o fato de eu ser professora da escola. Eu vivo as situações com eles, pois estou imersa no cotidiano. Sei como a rotina funciona, e isso ajuda na conversa e na conquista de muita coisa. Há situações pontuais, de profissionais que não querem aderir à perspectiva inclusiva. Mas, de modo geral, temos construído algo muito legal. Outro ponto que faz diferença é ter o apoio da direção. Tenho gestoras que apostam muito no trabalho do AEE. Somos parceiras, e isso é uma maravilha.
Por exemplo, conquistamos um espaço importante para o AEE nas reuniões pedagógicas. Somos uma escola grande, com 700 alunos e 80 professores. Em todas as reuniões pedagógicas, que é quando está toda a equipe reunida, fazemos formação. Nesses momentos, já discutimos modelos de compreensão da deficiência, tecnologia assistiva e comunicação alternativa, por exemplo. Essa parceria com a gestão contribui para a receptividade dos educadores também. Isso porque eu, como professora do AEE, estou em uma posição simétrica com os meus colegas. Mas a coordenação [pedagógica] e a direção, não. Eles podem intervir de um lugar que eu não posso. Por exemplo: eu compartilho com as gestoras todos os recursos e orientações que eu dou aos professores. E quando eu percebo que algo não está sendo usado, eu sinalizo. Isso é importante porque elas podem abordar a questão de uma outra perspectiva.
Você percebe uma transformação na prática pedagógica dos professores regentes?
Em todos, não, mas em muitos, sim. É um percurso grande. A rotatividade de professores atrapalha, e perdemos parte do trabalho realizado. Mas, no ano passado, nossa rede realizou um concurso para professores. Fazia dez anos que isso não ocorria, e chegaram novos efetivos na escola. Então, acho que daqui a um tempo vamos colher os frutos do trabalho formativo, do entendimento que temos construído a respeito do lugar do serviço do AEE, de que estamos ali para apoiá-los.
Como professora regente, você consegue trabalhar com estratégias diversificadas?
Eu tive a sorte de começar minha trajetória como professora discutindo a perspectiva de educação inclusiva, então, trabalho assim há muito tempo. E vou aprimorando, mudando várias coisas e avançando. Esse é meu modo de trabalho tendo ou não estudantes com deficiência em sala.
Há um ponto em que sou bastante firme: não recebo diagnóstico na minha sala, eu recebo estudante. Isso é o que guia a minha prática. Não quero saber do CID [código de classificação médica]. Eu quero saber do João e da Maria, das necessidades específicas deles, dos apoios e recursos necessários. Quando chega uma criança, eu tento construir e oferecer esse lugar de estudante.
Então, qual é o papel do laudo?
Um laudo pode, por exemplo, me dizer da acuidade visual de um estudante, e isso me ajuda no AEE a pensar que recurso eu vou usar. Mas isso é para o serviço do AEE. Na sala de aula comum, não. Acho que [o laudo] tem atrapalhado. Porque chega o diagnóstico e parece que a criança imediatamente deixa de ser estudante e passa a ser paciente. E isso gera muita paralisia nos professores.
Se ele recebe um paciente, ele fica sem lugar e não vai saber fazer nada. Eu tento preservar a minha sala de aula, sou cuidadosa com isso. Tem um caso que eu gosto de contar para ilustrar: tive um estudante que chegou para mim, no primeiro dia, e falou: ‘Olha, professora, você não pode chamar minha atenção porque eu sou autista, tá?’. Eu falei: ‘Mas aqui você é estudante e eu sou professora. E, quando precisa, uma professora chama a atenção do estudante’. Na semana seguinte, ele tentou de novo: ‘Professora, eu não preciso seguir essa regra porque que eu sou autista’. Eu respondi: ‘Já te falei que aqui você é estudante e estudante aprende a cumprir algumas regras na escola. Às vezes, para estarmos juntos, temos de seguir a regra. Em outros momentos, tudo bem negociar’. Depois disso, nunca mais ele veio com esse argumento. E foi muito legal. O que eu ofereci para ele foi o lugar de estudante, e ele de fato construiu esse lugar. Isso também o ajudou no convívio com os colegas, no sentido de ele sair do lugar de ‘café com leite’.
Outro ponto importante é que não prendo recurso à deficiência, ou seja, não trabalho na lógica de que todo autista precisa de um abafador. Não. Assim como não é só a pessoa com baixa visão que precisa da pauta ampliada. Isso é importante tanto para o serviço do AEE quanto para a sala de aula comum. Eu também não diferencio o currículo, que é comum. O que eu diversifico é a estratégia para chegar ao currículo, para torná-lo acessível. Todo mundo não precisa estudar do mesmo jeito, mas a turma precisa estudar o mesmo objeto. Porque estamos ali para estudar juntos.
Assim, eu sigo tentando não tirar o lugar do comum. O que não significa não atender o específico. Eu posso atender ao comum e ao específico. O que não dá é seguir a lógica do exclusivo, das coisas separadas. A escola é o lugar de experimentação do singular e do coletivo, e de conciliar os dois. Todo mundo precisa ceder um pouco do seu funcionamento para conviver. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa diluir a sua singularidade. Não faço só o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas também não preciso ceder tudo. Tem algo que é o que me faz único e que precisa ter lugar ali.
Por que a opção pela educação inclusiva?
A perspectiva inclusiva é para fazer a escola melhor para todos: estudantes e professores. Acho que eu tenho muita alegria desde o início da minha trajetória, porque me encontrei com a perspectiva inclusiva cedo. Isso abriu frestas e me colocou em uma posição de abertura para o outro, algo que eu tento preservar, de não ter condicionantes para receber um estudante e me arriscar no trabalho com ele.
Há um certo risco nessa função de professor, de tentar controlar a aprendizagem e o comportamento do meu estudante. Isso não funciona, porque é um processo que vamos construir juntos. Essa possibilidade de construção coletiva abre para imprevisibilidade e para o estilo de cada um. Não precisamos de educadores muito técnicos, que ficam ali cumprindo o roteiro. Costumo falar que a cena escolar não é para ser hospitalar, mas sim hospitaleira. O hospitalar é esse lugar com muita assepsia para não ter risco de infecção, com pouco contato e muita técnica.
A hospitalidade é outra coisa. A gente tem de mergulhar no outro, tem de encostar e se misturar. Eu não acredito que seja possível aprendizagem sem vínculo. A sala de aula é um lugar maravilhoso, de bons encontros e de muita potência. E tem de ser bom para os dois: estudante e professor. O que não significa que a aprendizagem vai ser sempre muito divertida, não tem a ver com isso. Às vezes aprender é duro, dá trabalho. Eu falo para meus alunos que é difícil, que temos de suar a camisa.
Eu fico muito tocada porque as crianças me ensinam muito, todos os dias. Elas também vão me formando. Elas sabem que eu vou falhar e eu sei que eles também vão tropeçar, mas contamos uns com os outros. Acho que, se os professores puderem encontrar essa dimensão, vão reencontrar a alegria desse trabalho, que é muito gostoso.
Leia mais:
+ 10 perguntas e respostas sobre AEE
+ Ter ou não um profissional de apoio escolar? Avaliação cabe à equipe escolar