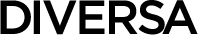Foi em uma turma de 1º ano da Escola Municipal Juliano Moreira, na cidade do Rio de Janeiro (RJ) que — deixando-me surpreender, desconstruindo mitos e identificando possibilidades — aprendi lições importantes sobre educação inclusiva e diferenças. Em abril de 2015, fui informada sobre vagas de estágio para atuar na rede regular de ensino. Essas oportunidades eram para estudantes de cursos de graduação ligados à área da educação que atuariam na “mediação” entre alunos “com necessidades especiais”, como eram identificados, e seus colegas e professores. O estágio não era obrigatório, mas decidi me inscrever, pois minha intenção como futura pedagoga era conhecer mais de perto a prática docente no cotidiano da escola*.
Fui designada para acompanhar Diogo**, um menino com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Em meu primeiro dia, as professoras regente de sala de aula e a do atendimento educacional especializado (AEE) me apresentaram a ele e à turma na qual estaria inserida pelos nove meses seguintes.
No início, Diogo e eu nos sentimos constrangidos. Sentávamos lado a lado. Ele se comunicava com certa dificuldade, não formava frases completas. E, aparentemente, não queria conversar. Para superar a fase de “estranhamento”, procurei me informar sobre seus hábitos e preferências junto às docentes e à família. Pouco a pouco, começamos a
nos familiarizar um com o outro.
As descobertas da convivência
Passadas algumas semanas, ao chegar na escola, deparei-me com a professora regente tentando convencer Diogo a entrar na sala de aula, mas ele ele estava irredutível. A docente precisava entrar, a turma a esperava. Então fiquei com o garoto, do lado de fora.
Muitas pessoas passaram por nós. Alguns só olhavam, curiosos, e me perguntavam o que estava acontecendo. Outros falavam com ele, tentando, em vão, convencê-lo a entrar.
De repente, o sinal do recreio tocou. O garoto se levantou imediatamente, como se estivesse esperando o sinal, vestiu a meia e o sapato e pediu que eu amarrasse os cadarços. Entrou na sala, deixou a mochila atrás da cadeira e pegou seu lanche. O resto do dia correu como de costume: ele brincou no recreio, voltou para a sala, realizou as atividades, normalmente.
Aos poucos, fui conseguindo relacionar esses episódios a significados e a identificar uma certa lógica muito particular. Entre outras coisas, entendi que a rotina — manutenção ou quebra — influenciava suas atitudes, seu comportamento. Identificada essa característica, estabeleci meu primeiro objetivo: ajudá-lo a flexibilizar padrões e hábitos cotidianos. Reconheci que precisava, primeiro, aprender sobre ele para então, gradativamente, construir as diretrizes do meu trabalho, compreendendo qual, de fato, era o meu papel.
As singularidades do Diogo, e não do autismo
Passei a fazer um rodízio: ao invés de sentarmos sempre no mesmo lugar, passamos a sentar em lugares diferentes todos os dias. Diogo resistiu no início, demonstrando claramente não gostar da novidade, mas ao perceber que eu não desistiria, acabou cedendo. Aos poucos foi se acostumando.
Alguém poderia alegar que se trata de uma característica típica de pessoas com autismo. Por isso considero oportuno mencionar outro episódio que ilustra outra de minhas muitas descobertas: a necessidade de tomar a pessoa, suas singularidades, e não o diagnóstico, com referência. Que o tal “mundo dos autistas” não existe. Vivemos no mesmo mundo, mas de modos diferentes.
Cerca de três meses de estágio já tinham se passado. Tive prova na faculdade e estava bastante nervosa, sentindo-me insegura em relação ao resultado. Ao chegar na escola, procurei agir normalmente, até que, repentinamente, Diogo me perguntou se eu estava triste. Fiquei surpresa. As outras pessoas não perceberam, mas ele identificou a mudança de humor. E foi sensível, empático.
Aos poucos, tornamo-nos mais próximos e pude perceber que essa se tratava de uma de suas características mais significativas: a sensibilidade. Que, uma vez identificada, facilitou bastante meu trabalho, principalmente no fomento à aproximação com colegas e professoras, bem como no acesso ao conteúdo do currículo.
Todos se envolvem – todos se beneficiam
A partir dessa experiência, pude reconhecer a observação como um recurso pedagógico potente — e necessário — para a inclusão e particularmente para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas eficazes. E não somente para estudantes com diagnósticos diferenciados, mas para todos. Que um bom professor busca bons resultados sem esperar homogeneidade do grupo. Todos somos diferentes. Os estudantes — todos — também são.
Reconheci, também, a importância do trabalho colaborativo. De a família e os diferentes atores da escola atuarem numa perspectiva de corresponsabilidade, a partir de objetivos comuns. De o estagiário, ou profissional de apoio, trabalhar junto com o professor, não paralelamente, atuando no sentido de potencializar a autonomia do aluno, para a plena participação.
Finalizado o estágio, após dois anos, pude retornar à mesma escola e passar 15 dias com Diogo e sua turma, agora no 3º ano do ensino fundamental. Agora quem senta ao lado de Diogo é um colega — não mais um estagiário. Seu material está sobre a mesa. No caderno, sempre aberto, ele registra tudo o que é trabalhado em sala de aula. Formula frases completas para se comunicar com os colegas e a professora. Participa e interage de forma autônoma. Está incluído.
* Este relato de experiência foi publicado, originalmente, como um artigo acadêmico na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O projeto foi orientado pela professora Flávia Dutra.
** Nome fictício.