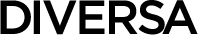O legado das mulheres na construção do modelo social da deficiência
Karla Luiz, psicóloga e pesquisadora, explica como os movimentos feministas contribuíram para a compreensão do que é ética do cuidado e para que as pessoas com deficiência fossem vistas para além de suas especificidades

“Se todos nós somos cuidados em algum momento de nossa existência, e alguns serão cuidados por toda a sua trajetória de vida, há um jeito ético de cuidar, com respeito ao bem-estar daquele que é cuidado, sem se esquecer de quem cuida”, reflete Karla Garcia Luiz. Doutora em Psicologia Social, ela explica a importância da teoria da ética do cuidado para a formulação do modelo social de deficiência presente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que teve relevante influência dos movimentos feministas.
A ética do cuidado envolve a importância das relações interpessoais, a responsabilidade mútua e a preocupação com o bem-estar dos outros, reconhecendo cada indivíduo como sujeito de direitos, bem como a importância de promover sua autonomia, independência e liberdade de escolha. Nesse contexto, é comum associar histórica e culturalmente a mulher com o papel de cuidadora na sociedade, quando o cuidado exige uma postura ética de toda a comunidade e do Estado. “Questionar por que o cuidado é delegado apenas às mulheres foi uma contribuição das próprias mulheres”, comenta Karla.
“Quando a gente pensa no bem viver e no cuidado, por consequência, também está previsto o bem-estar daquele que cuida. E as mulheres colaboraram nessa compreensão, falando, justamente enquanto cuidadoras, da sobrecarga que cuidar de alguém acarreta e o quanto o cuidado precisa ser compreendido como responsabilidade coletiva”, defende.
Karla é mãe, especialista em Educação Especial, mestra e doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), servidora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do mesmo estado e ativista na área dos Estudos Feministas da Deficiência. Também integra o Grupo de Trabalho Interministerial da Avaliação Biopsicossocial da Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Pessoa com deficiência, ela fez parte do Coletivo Feminista Helen Keller e ajudou a desenvolver o guia “Mulheres com deficiência: garantia de direitos para exercício da cidadania”.
No mês das mulheres, Karla concedeu entrevista ao DIVERSA. Na conversa, ela reflete sobre a ética do cuidado, as diferenças dos modelos social e clínico da deficiência, a interseccionalidade da deficiência com marcadores sociais da desigualdade, a importância de uma educação inclusiva e como é necessária a humanização para além das diferenças que são inerentes à própria humanidade.
Um de seus artigos traz o seguinte questionamento: “Por que o corpo com deficiência é aquilo que as pessoas rejeitam e, ao mesmo tempo, têm curiosidade de ver ou saber sobre?”. Considerando a luta contra o capacitismo, quais avanços você vê nas interpretações, espaços e olhares para esses corpos?
Desde o advento do modelo social da deficiência, mais ou menos na década de 1960, no Reino Unido, e a partir da década de 1970 no Brasil, tem crescido um movimento que mostra que não há nada sobre nós sem nós. A presença dos nossos corpos e das nossas existências nos espaços tensionam as estruturas que são extremamente capacitistas. A sociedade moderna tem alguns pilares para o seu funcionamento, como o capitalismo, o racismo, o machismo, a homofobia e o capacitismo. Precisamos causar fissuras nessas estruturas e isso significa dizer que nós estaremos aqui, que precisamos de modos para acessar todos os espaços. Por isso, acho que saímos do lugar de coadjuvantes na luta das pessoas sem deficiência por nós e passamos a construir essa luta com os nossos próprios corpos. Estamos vivendo um momento em que somos os professores, não mais os alunos. Não somos apenas as pessoas que são atendidas, mas também os palestrantes, não só aqueles que ouvem falar da gente, mas aqueles que estão falando com propriedade. Sobretudo nas últimas duas décadas, estamos construindo as políticas que dizem respeito a nós, ocupando lugares de poder.
Quais as principais diferenças entre os modelos social e clínico da deficiência?
Ao longo da história do Ocidente, encontramos alguns modelos de compreensão da deficiência, entre eles o médico ou clínico, e o social. No modelo médico, com o advento da medicina, a deficiência deixa de ser objeto de exploração teológica e de caridade, e passa a ser objeto de intervenção. Busca-se a cura e, a todo custo, enquadrar esse corpo que foge da norma dentro de um determinado padrão. Há uma tentativa de aproximar esse corpo da funcionalidade e da estética, entendendo-o como algo que precisa da intervenção da medicina para se tornar ideal.
Depois da Declaração dos Direitos Humanos (1948), após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começa a mudar gradativamente e algumas coisas passam a ter uma nova perspectiva. É nesse contexto que surge o modelo social da deficiência, quando muitos teóricos com deficiência começaram a dizer que era necessário olhar suas condições não apenas pelo viés da deficiência. Mas o modelo social se divide em duas gerações. Os teóricos da primeira geração propunham eliminar as barreiras arquitetônicas, enquanto a segunda onda traz a contribuição das mulheres — e das feministas. A grande diferença é que o modelo clínico ou médico é voltado para a deficiência e o impedimento do corpo; já o modelo social faz o movimento inverso: não relaciona o impedimento com o corpo, mas com as barreiras sociais.
Por que ocorreu a mudança de um para o outro?
Uma série de fatores históricos após a Segunda Guerra Mundial contribuiu para que autores começassem a dizer que o modelo clínico não era o suficiente para explicar a vivência dessas pessoas. Sobretudo nos países onde os soldados voltaram para casa com deficiência foi necessário olhar para eles e continuar enxergando produtividade. É o combate à ideia de ser reduzido à nossa deficiência, de ser julgado como improdutivo e incapaz. Nessa mudança, começamos a enxergar humanidade nas pessoas com deficiência, e não as reduzir apenas a esta característica.
Quais foram as contribuições das mulheres nesse processo?
A segunda geração do modelo social da deficiência, na qual as mulheres estão presentes, diz que, mesmo que você elimine todas as barreiras arquitetônicas, há outras necessidades a serem atendidas. As mulheres não descartaram o que a primeira geração fez, apenas ampliaram o conceito e disseram: vamos continuar olhando para as barreiras, mas não é o corpo que precisa ser consertado e colocado em um padrão. E há pessoas que continuarão dependendo de cuidados. Mas há outras que dependem de cuidados, mas que também podem exercer o cuidar e, assim, praticar uma interdependência [com o cuidador]. As mulheres também fizeram a deficiência ser considerada uma categoria analítica que intersecciona outros marcadores sociais da deficiência e trouxeram a pauta da ética do cuidado. Se hoje a discussão da ética do cuidado está entre as questões de gênero, é uma contribuição dos estudos feministas da deficiência.
Como o modelo religioso, que relaciona a pessoa com deficiência a uma missão divina, prejudica a individualidade?
Acho que todos os modelos que pressupõem a deficiência por meio de mitos e tabus, como objetos de exploração teológica, caritativa e médica, que não levam em conta a humanidade da pessoa com deficiência, que não consideram o nosso jeito, são prejudiciais nesse sentido, pois não dão conta da nossa existência. Alguém que olha para uma pessoa com deficiência e pensa que ela é um anjo, que ela não tem sexualidade em função da sua especificidade — isso tem uma implicação para a vida daquela pessoa. Perpetua-se uma ideia equivocada sobre a existência de alguém. Você desumaniza o outro, cria estereótipos e preconceitos e acaba influenciando na construção de políticas que não dão conta da nossa existência.
Você diz que há uma situação paradoxal e mítica sobre a maneira como enxergam as mulheres com deficiência: “por vezes assexuada, por vezes hiper sexualizada”. Como a indústria cultural e a mídia contribuem para essa visão?
As produções culturais também são reflexo de uma sociedade capacitista e reproduzem ideias estereotipadas de pessoas com deficiência. O que precisamos fazer é questionar, cada vez mais, por que as produções não são feitas por nós? Em um comparativo simples, é como vermos produções e debates sobre raça feitos apenas por brancos. Precisamos abandonar a narrativa hegemônica sobre pessoas por conta da deficiência e buscar referências de pessoas com deficiência, dialogar com elas.
O que é a ética do cuidado e como as mulheres colaboraram para a sua construção?
O mito do sujeito independente é uma falácia do capitalismo. Essa ideia de que tudo depende das nossas escolhas e das nossas posições individuais é para a gente produzir e consumir mais. Se todos nós somos cuidados em algum momento da nossa existência, e alguns serão cuidados por toda a sua trajetória, há um jeito ético de cuidar, com respeito ao bem-estar daquele que é cuidado, sem se esquecer de quem cuida. A ética do cuidado tem a ver com o que é melhor para o sujeito, sem descartar as suas escolhas, no sentido de respeitar o protagonismo daquele que é cuidado, porque a gente ainda vê relações em que a pessoa que cuida manda totalmente na vida daquele que é cuidado. Muitas vezes, por necessidade, a pessoa não tem voz ativa sobre a sua própria vida.
Além disso, quando a gente pensa no bem viver e no cuidado, por consequência, também é previsto o bem-estar daquele que cuida. E as mulheres colaboraram com essa compreensão, falando justamente, enquanto cuidadoras, da sobrecarga que cuidar de alguém acarreta e o quanto o cuidado precisa ser compreendido como responsabilidade coletiva. Questionar por que o cuidado é delegado apenas às mulheres foi uma contribuição das próprias mulheres. Quando houve o advento do capitalismo, as mulheres foram empurradas para o âmbito doméstico, enquanto os homens saíam para produzir mão de obra para o capital. As mulheres ficavam dentro de casa, no lar, cuidando da vida doméstica e da vida desse homem, que é entendido como um sujeito independente, mas ele não é. Para ele ir trabalhar e ter o seu dinheiro, alguém ficou cuidando da vida doméstica dele, dos filhos, da casa, da comida e da roupa. O cuidado ainda é visto como esse trabalho invisível, uma responsabilidade feminina, mas ele não nasce com um gênero.
Qual a relação entre ética do cuidado e interseccionalidade da deficiência com outros marcadores sociais? E como tudo isso deveria pautar a elaboração de políticas públicas?
Essa relação é absolutamente direta. Quando se fala em ética do cuidado, não se trata apenas de deficiência. Estamos falando sobre geração, gênero, classe e raça. Hoje, quem representa o maior grupo de cuidadores no Brasil? Mulheres pobres, negras e periféricas. São marcadores que se interseccionam, e isso é extremamente importante para a construção de políticas públicas, porque a gente não pode nunca olhar para a categoria da deficiência como algo isolado. Eu, Karla, sou uma mulher com deficiência, mas eu tenho um gênero, eu estou inserida em uma classe social, eu moro em um determinado território que diz muito sobre a minha realidade: estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina, no sul do Brasil, e não é a mesma coisa ser uma mulher com deficiência branca aqui e ser uma mulher com deficiência preta ou indígena, que vive em situação ribeirinha no Amazonas. Então eu vou ter de pensar em políticas que deem conta dos marcadores sociais da desigualdade, do território, do gênero, da raça, da classe etc. A deficiência é uma condição vivida de modos diferentes e tem um caráter sociológico. Ela não diz respeito ao impedimento do corpo, ela tem implicação com outros marcadores sociais da desigualdade que vão possibilitar ou dificultar a plena participação das pessoas na sociedade.
Por que e como a ética do cuidado deve estar presente nas escolas?
Quando eu e a jornalista Mariana Rosa escrevemos o guia “Como educar crianças anticapacitistas”, entendemos que a escola é esse ambiente fértil para se viver situações que, muitas vezes, não vão ser possíveis em casa, porque estamos em certas estruturas. A escola é um espaço privilegiado para esse momento de compreensão de que todos nós podemos ser corresponsáveis uns pelos outros. O cuidado das pessoas que dependem de cuidados para sobreviver, por exemplo, não precisa vir dos especialistas, de alguém específico, pode estar em uma relação de amizade e de afinidade. Ou seja, é um lugar importante para que essas relações comecem a ser proporcionadas, é ali que as oportunidades surgem.
Vou tentar dar um exemplo de ação que pode ser realizada na escola: ajudar os estudantes a refletir sobre quais perguntas fazer sobre determinado assunto. É a hora de inverter a pergunta e começar a fazer com que eles pensem de outra maneira, pois isso é um ensaio para a vida adulta. Assim, quando as crianças perguntam, “mas o meu colega não vai andar?”, podemos sugerir outras perguntas: “Por que é importante andar? Por que ele não pode ir a determinados lugares?”. E aí [esse aluno] vai se atentar à calçada que é esburacada ou à ausência de uma rampa. Ao fazer esse deslocamento, eu passo a perceber que o problema não está no sujeito que tem uma deficiência, mas no ambiente que não está preparado para acolher diversidade. Pensar que é uma responsabilidade compartilhada faz com que se comece a trabalhar para que isso aconteça de algum modo.
Nesse contexto, quais avanços ainda são necessários para efetivarmos uma educação inclusiva?
Para avançar na experiência de educação inclusiva, a gente vai ter de começar a entender que a educação é um direito inegociável de todas as pessoas. Precisaremos revisitar e mudar os paradigmas da educação como um todo. Se eu ainda estou pensando em educação inclusiva, é porque alguém ficou excluído do processo educacional. Quando entendermos que a educação é para todas as pessoas, vamos parar até de falar o termo educação inclusiva. Educação é educação — isso deveria englobar todo mundo e diferentes modos de se fazer o processo de ensino e aprendizagem. Enquanto nós ainda tivermos modos de educação, não falaremos de educação para todas as pessoas. A questão é repensar os paradigmas da educação e entender que esse direito é humano, e é irrevogável e inegociável.