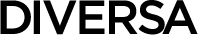“A deficiência deve ser compreendida como potência da humanidade”
Marcelo Zig, filósofo, músico e ativista no combate ao racismo e ao capacitismo, defende a ocupação dos espaços e a troca de experiências para o enfrentamento da exclusão
“Novembro negro chegou e quantos debates abordarão a experiência da pessoa negra com deficiência?”. Quem faz a provocação é o filósofo Marcelo Zig, em entrevista ao DIVERSA. Ativista no combate ao racismo e ao capacitismo, ele acaba de completar 51 anos. “Tenho mais tempo de vida em aliança e parceria com a cadeira de rodas do que fora dela. Em janeiro, completamos 30 anos”.
De família baiana, Marcelo nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Salvador desde a década de 1990. Durante um passeio com familiares e amigos, em 1995, ele sofreu um acidente após mergulhar em águas rasas. Em seguida, idealizou o projeto Mergulho Cidadão, que realizava campanhas preventivas sobre os riscos desse tipo de acidente.
Ao lembrar desse período, diz compreender o viés capacitista que a iniciativa tinha inicialmente: “O recado [que eu passava] era: cuidado ao brincar, porque você pode parar numa cadeira de rodas e se tornar uma pessoa como eu. A minha imagem era muito ameaçadora”.
Aos poucos, Marcelo ressignificou sua atuação. “Com o tempo, entendi que o problema não era ser uma pessoa com deficiência, mas era não poder ser uma pessoa com deficiência [por causa das barreiras impostas pela sociedade]. Estava tudo bem ser, porque fazia as mesmas coisas que antes, só que de uma forma diferente”.
Apaixonado pela vida, pela arte e pelas pessoas e suas histórias, Marcelo construiu uma trajetória de luta apostando no debate interseccional e na convivência, no encontro com o outro. Ele é fundador do Quilombo PCD, que atua no combate aos impactos do racismo e do capacitismo na vida de pessoas negras com deficiência.
Também é um dos idealizadores da Parada do Orgulho PCD, evento que celebra a diversidade e teve em 2024 sua segunda edição realizada em diferentes cidades brasileiras, reunindo centenas de pessoas com deficiência e da comunidade LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, dentre outras sexualidades e identidades sexuais e de gênero). Músico, ele se apresenta no carnaval e em outros eventos como “Afrodef e sua cadeira de som”, um “super-herói ancestral na luta contra o vilão capacitismo” em sua autodefinição.
A seguir, em conversa com o DIVERSA, Marcelo argumenta porque é preciso fortalecer os vínculos e as possibilidades de convivência e ampliar o debate sobre interseccionalidade para o combate ao capacitismo, além de comentar alguns dos desafios enfrentados pelas pessoas negras com deficiência e por suas mães.
Qual é a importância da interseccionalidade na sua trajetória e na do Quilombo PCD?
Certa vez me disseram, quase que literalmente, para que eu fosse negro em um espaço e pessoa com deficiência em outro. Não é possível sair com a minha negritude, deixando minha deficiência em casa, para discutir a pauta antirracista. Como também não posso depois voltar para casa, devolver a minha negritude, pegar minha deficiência e ir a outro espaço debater o capacitismo. A interseccionalidade é importante porque ainda debatemos a diversidade como se ela fosse um único elemento que reúne pessoas em um grupo. O Quilombo PCD surge justamente da dificuldade de atender a essa proposição. Já nasce com essa base interseccional de raça e deficiência, mas expandindo para outros marcadores sociais e estimulando esse debate na sociedade, porque somos muito mais do que uma característica que temos.
Essa discussão é essencial para avançarmos. Se não, as soluções que propomos vão continuar nos segmentando, nos mantendo como rivais, não reconhecendo o que nos une e o que nos reúne. Há avanços? Obviamente que sim. Mas há muito desentendimento e luta interna.
Como superar a fragmentação na luta por uma sociedade mais inclusiva?
Quando surgiu o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, ele reuniu todo mundo com deficiência. A partir das convenções e dos encontros nacionais, passamos a entender que uma rampa não atendia todas as pessoas com deficiência, pois havia outras necessidades que eram prioritárias para outros grupos. Além de ter a rampa, tinha de ter piso tátil e outros recursos de acessibilidade. E aí o movimento se rompe e vai criando suas células para poder se reconhecer, entender suas próprias demandas e propor a partir disso. E tudo bem, isso foi salutar e importante. Mas já estamos em 2024, não dá mais para seguir assim.
Está na hora de reagrupar, reconhecer e entender os avanços de cada um na sua área e tentar ver como podemos contemplar um ao outro, compreendendo que tem algo que nos reúne em um mesmo lugar: a luta contra o capacitismo. Juntos podemos ser fortes. Separados, teremos pequenas conquistas e o sacrifício continuará gigante, porque seguiremos isolados.
Esse encontro é fundamental. Participo de discussões com meus pares, pessoas que utilizam cadeiras de rodas. Mas é importante fazer o caminho de volta para encontrar os outros. A comunidade é muito maior. Posso ser uma pessoa autista cadeirante ou uma pessoa surdacega. Há interseccionalidade também na diversidade da deficiência. Mas sem esse debate interseccional, não tem como avançar.
Quais as principais demandas trazidas pelas famílias, em especial pelas mulheres?
O que não falta é desespero. O resto, falta tudo. Se a maioria das pessoas com deficiência no Brasil é de pessoas negras, quem dá suporte a essas crianças, jovens, adultos e idosos? São suas mães, para a grande maioria.
Se a acessibilidade é um artigo de luxo nos bairros nobres das grandes capitais do país, ela sequer é uma palavra citada nas periferias. Essas mulheres sobem e descem escadas, becos e vielas com suas crianças no colo. E essas crianças se tornam jovens, chegam à idade adulta e seguem no colo de suas mães até essas mulheres sucumbirem ou se tornarem, muitas vezes, pessoas com deficiência também.
Ouvir seus relatos é absolutamente avassalador. Fico com o sentimento de escutar a mesma história várias vezes. É a mãe que está há quatro anos esperando que seu filho faça um exame importante [no serviço de saúde pública]. Ela não tem recurso para pagar o procedimento. Enquanto isso, ele passa a ter uma outra deficiência em razão da não realização desse exame e da não identificação de uma questão que estava ali no escopo inicial da sua deficiência. Sem essa possibilidade de atenção e cuidado, a criança se torna uma pessoa com deficiência múltipla. Isso só faz pesar ainda mais o cotidiano dessa mãe, que agora tem uma criança com deficiência múltipla e enfrenta uma sociedade capacitista sem apoio nenhum.
+ Leia também: O papel da defensoria pública no acesso à justiça
Além do acesso à saúde, quais outras barreiras são impostas para as pessoas negras com deficiência e suas mães?
Essas mulheres são empurradas para a informalidade diante da logística que é conquistar um benefício. Porque se elas trabalharem com carteira assinada, podem deixar de receber o BPC [Benefício de Prestação Continuada]. Para acessá-lo, além de comprovar a deficiência de um membro familiar, a renda per capita do grupo deve ser, no máximo, de um quarto de salário–mínimo.
Como é que naturalizamos estar tudo bem uma pessoa viver com apenas um quarto de salário-mínimo? Ainda mais em uma família que tem uma pessoa com deficiência para quem tudo é mais caro, em especial itens de primeira ordem de necessidade.
Como esse ciclo de pobreza dificulta a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho?
Essa criança, quando se torna maior de idade e apta a trabalhar, vai viver um dilema: ingressar no mercado de trabalho e arriscar uma melhora para o seu grupo, mesmo que isso coloque em perigo tudo que já tem, por menor que seja? Ou vai abdicar dessa experiência de trabalhar para manter [o BPC] e não sair desse lugar? Esse é um debate muito violento.
Quantas mães já passaram pelo Quilombo PCD?
Não temos esse número. Nosso trabalho sempre foi com todo mundo misturado. Esse ano passamos a fazer essa distinção e criamos um grupo só para as mães, porque também há coisas que precisam ser discutidas somente entre elas.
São mães de várias localidades do Brasil. Nesse momento é muito mais um grupo de acolhimento, troca e compartilhamento de experiências para fortalecer e para que elas possam entender que não estão sozinhas, que tem quem busca apoiá-las em sua luta.
Essa participação vem crescendo. Com a parada PCD tenho tido a oportunidade de viajar o Brasil, conversar com pessoas negras com deficiência e com suas mães em suas próprias cidades. Ainda não somos formalizados, não temos CNPJ, mas estamos providenciando isso agora, entre outros motivos, porque estamos desenvolvendo uma parceria com o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas] para criar uma série de cursos para as mães e as pessoas com deficiência. Precisamos dar conta de fomentar alguma renda para essas pessoas.
As pessoas negras com deficiência seguem invisíveis para a sociedade?
Somos um povo que está em luta desde o início da história desse país. E onde estão as referências de pessoas negras com deficiência? Todos nós, negros, passamos ilesos? Éramos assassinados ou vivíamos sem nos tornar uma pessoa com deficiência? Quem garante que Zumbi não tenha se tornado uma pessoa com deficiência, diante de toda a violência que permeou sua vida?
Quem se lembra do Beto [João Alberto Silveira Freitas], assassinado no estacionamento do supermercado Carrefour, em 2020? Era um cara negro com deficiência. Quem falou disso? É assustador. O Genivaldo dos Santos foi torturado e assassinado em uma viatura da polícia rodoviária federal de Sergipe. Parece que isso não existiu no Brasil. E isso ocorreu há dois anos. O Hospital Colônia de Barbacena é sempre lembrado como o holocausto brasileiro, mas quem, de fato, eram as pessoas que estavam lá? Por que não se desdobra?
Quando olhamos os estudos, eles falam do processo de luta do povo negro, mas quando esse negro se torna uma pessoa com deficiência na luta pela sua liberdade, puff. Tem um ponto final na história.
No genocídio do Congo, o que Dom Leopoldo II fazia? “Ah, ele assassinava”. E o que mais? “Ah, ele mutilava as pessoas”. E depois, o que aconteceu com a vida dessas pessoas? Silêncio. Elas morreram em vida. Morrem socialmente para todo mundo, inclusive para seus pares. Esse é o nosso enfrentamento diário.
Estamos no mês da consciência negra. A invisibilidade da pessoa negra com deficiência e a luta anticapacitista estarão presentes na pauta?
O movimento negro fala sobre a solidão da mulher negra, mas não tem ideia do que é a solidão da mulher negra, mãe de uma criança ou de um jovem com deficiência. Ou da solidão de uma mulher negra com deficiência. Quando eu tenciono nesse lugar, muitas pessoas dizem que sou radical, que estou criando uma cisão no movimento. E o que eu respondo a essas pessoas é: “Vocês me ensinaram isso”.
Cotidianamente, temos de falar para os nossos iguais: “Como é que vocês vão dizer para uma pessoa amputada que ‘ninguém solta a mão de ninguém’?”. “Como dizer para uma pessoa surda que a sua escuta é ativa?”. “Vocês só debatem diversidade até a página da pessoa sem deficiência”. Depois disso é ponto final. Não tem mais nada além.
O capacitismo também afeta as pessoas sem deficiência?
O capacitismo mata, mas a sociedade ainda não compreendeu isso. Estamos em 2024 e mesmo sendo a segunda língua oficial do país, quantos telejornais assistimos em que há a presença de um intérprete de libras? Durante a pandemia, por exemplo, se essas pessoas [surdas] não tivessem alternativas para buscar informação que salvaguardassem suas vidas, talvez hoje não teríamos entre nós muitas delas. Mas elas teriam morrido por Covid? Não, por capacitismo.
A sociedade ainda compreende a deficiência como um grande infortúnio da vida, que não há muito o que fazer a não ser lamentar a existência daquele corpo.
Se ampliarmos essa questão sob a ótica da interseccionalidade, começamos a entender que o capacitismo não atravessa só a vida da pessoa com deficiência. São as mães, em sua maioria, nossas principais parceiras e aliadas. São mulheres negras, mães solos, periféricas, abandonadas pelo parceiro imediatamente quando ele toma conhecimento de que essa criança é uma pessoa com deficiência.
Essa mulher é a primeira a ser abandonada. Primeiro pelo parceiro e depois pela sociedade, pelas instituições e muitas vezes pela própria família. A essa mãe é imputada a responsabilidade de ser a ponte entre a sociedade e qualquer qualidade de vida que possa se compor para essa criança ou para esse jovem com deficiência. O que ela está sofrendo? Capacitismo.
Como enfrentar a crença de que as pessoas com deficiência não são capazes?
Onde está a referência a essas pessoas, a representatividade, a ancestralidade das pessoas negras com deficiência? Ela existe e é real. Só que a gente nega.
Em dezembro, vamos realizar a Parada PCD no Rio de Janeiro e homenagear o Candeia. Qualquer pessoa que gosta minimamente de samba já ouviu falar do Candeia. Sabe quem é. Mas muitos, ainda hoje, não sabem que ele era cadeirante. O Abdias do Nascimento diz, em uma entrevista, que muito do seu conceito de quilombismo vem de Candeia, um homem negro com deficiência.
Precisamos perguntar até quando vai se sustentar esse imaginário de incapacidade que recai sobre a pessoa com deficiência diante de toda a produção do Candeia. Diante de toda a produção do Stevie Wonder, o artista mais premiado pelo Grammy; do Ray Charles, que criou um gênero musical. Como é que se argumenta essa incapacidade diante de toda a contribuição da Maria da Penha, de todos os feitos do Stephen Hawking, da Frida Kahlo, diante de tudo que a gente assiste nas paralimpíadas?
Como é que se argumenta a incapacidade em torno da vida dessas pessoas? Essa é a grande pergunta que tenho feito para a sociedade. Como é que vocês conseguem sustentar isso? Argumentem, eu gostaria de ouvir. Não tem como sustentar.
Se você cobrar da pessoa com deficiência que ela performe como uma pessoa sem deficiência, ok, ela é incapaz. Se você cobrar que eu ande, ok, você venceu. Eu sou incapaz. Mas se você respeitar e acolher o meu corpo e as necessidades específicas dele, se entender que existem tantas e muitas outras maneiras de se deslocar que não necessariamente por meio das pernas, não há mais distância entre nós. Não há mais barreira.
A deficiência precisa deixar de ser percebida como uma ausência, incapacidade ou incompetência. Muito pelo contrário, ela tem de ser percebida como potência da humanidade.
Como você compreende essa potência?
Quantos Stephen Hawking ou Stevie Wonder a sociedade deixou de conhecer? Quais contribuições esses que não chegaram a ser poderiam ter contemplado à sociedade? Pessoas que se comunicam com as mãos, que se deslocam sem usar as pernas. Quais valores essas pessoas podem contemplar à sociedade?
As pessoas com deficiência sempre existiram. E a não ser que a sociedade consiga, de fato, efetivar a sua própria extinção, nós continuaremos a existir. Em todo esse processo, nós viemos lutando pela nossa sobrevivência, resistindo. E mesmo sem o famigerado convite para dançar, a gente participa da sociedade.
As pessoas mais estratégicas do planeta são as pessoas com deficiência. Eu incorro aqui no risco de falar isso: mas, ainda hoje, mesmo depois de 30 anos de experiência como uma pessoa com deficiência, a cada saída de casa, eu tenho de elaborar um plano de guerra. Tenho de abrir um mapa na mesa da minha sala e pensar estratégias de como eu vou acessar, ocupar os espaços e voltar para casa. A cada saída, seja para lazer, cultura, escola, trabalho ou para requisitar a aposentadoria.
Pergunte às pessoas que utilizam cadeiras de rodas quantas vezes ela já usou a expressão “dá pra ir”? Como trabalhar a autoestima e a saúde mental de uma pessoa para quem o tempo todo é dito que ela não pertence àquele lugar.
Se a pessoa com deficiência começar a jogar xadrez, ela será a melhor de todos os tempos. Nunca fui pesquisar, porque sempre falo isso brincando. Mas a verdade é que nós temos de pensar sempre três casas antes.
É preciso incluir.
Quando se fala em inclusão, a pergunta é incluir onde? Já estamos aqui. Se alguém precisa ser incluído é a pessoa sem deficiência na vida da pessoa com deficiência. Porque nós sempre estivemos aqui. Quem não sabe de alguém nessa história é a pessoa sem deficiência. Nós conhecemos vocês por dentro e por fora.
Porque isso é o nosso instrumento de resistência, de sobrevivência e de luta. Saber das barreiras que nos são impostas, mesmo de maneira inconsciente, mas ainda assim são. E se a gente não administrar isso, de fato, a gente morre.
Se você me convidar para tomar um café na sua residência, tenho de perguntar se dá para ir. Se estou interessado em ir em um show de uma banda que eu amo, preciso fazer como a finada rainha da Inglaterra e me anunciar previamente antes de ocupar o espaço.
Quantas vezes uma pessoa sem deficiência precisou pensar se no local para o qual ela está indo há um banheiro que possa ser utilizado? Se há intérprete de libras para recepcioná-lo ou um piso tátil para conduzi-lo?
E a sociedade nega a existência e a experiência da pessoa com deficiência porque “narciso acha feio o que não é espelho”. Quando entender a deficiência como competência, essa chave vai virar. Temos pessoas com deficiência fazendo as mesmas coisas que as pessoas sem deficiência, mas de formas diferentes. O quanto a sociedade pode ganhar com isso?
Quais são as saídas para avançarmos na garantia de direitos, para que a vida social aconteça? A educação inclusiva é uma delas?
Eu poderia trazer muitas dicas, mas acho que a mais importante é assumir como estratégia o lema da pessoa com deficiência: nada sobre nós, sem nós. Isso não significa a pessoa com deficiência em um canto e a pessoa sem deficiência em outro, como continua acontecendo.
E sim, nós enquanto pessoas, diante da nossa diversidade, das nossas necessidades, da compreensão das nossas especificidades, debatendo e construindo uma sociedade que componha toda essa diversidade, que possa se relacionar com todos nós com a mesma e única palavra: que não seja uma educação antirracista, antimachista ou anticapacitista. Que seja apenas educação.
Precisamos, de fato, de toda a informação, de todo o saber e todo o conhecimento que já foi constituído. Mas precisamos também defender que essa diversidade possa ser realidade em todo o espaço que eu frequente. A ausência da pessoa com deficiência nos espaços não é natural.
Não é natural as pessoas se assustarem com o número de pessoas com deficiência no país. O que deveria ser de se estranhar é a maioria das pessoas buscar em suas memórias afetivas e não encontrarem um amigo de infância ou colega de escola com deficiência.
Podemos mudar isso [a exclusão] com ocupação do espaço e compartilhamento de experiências. Por isso, o mote da Parada PCD é PCD na rua. Não precisamos construir um manual para entender qual é a melhor forma de se relacionar com uma pessoa com deficiência, se a gente não faz sequer essa pergunta em relação a outra pessoa sem deficiência.
E como foi que a gente deu conta disso? Conviveu. É a partir da convivência. Lógico que o letramento é importante. Mas apenas ele não dá conta. Senão já teríamos resolvido o machismo, o racismo e outros problemas estruturais. O caminho é pela convivência.
+ Leia mais:
Capacitismo: o que é e como a escola deve enfrentá-lo
“Vivemos em um país que produz deficiências a partir da desigualdade e do racismo”