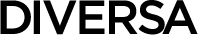Escola é espaço para combater capacitismo e LGBTfobia
Para a pesquisadora Ana Cláudia Bortolozzi, uma educação sexual emancipatória e inclusiva é fundamental para lutar contra as violências e garantir o convívio com a diversidade
Quando Priscila Siqueira frequentava o ensino médio, o sentimento mais comum era de isolamento. “Não havia outras pessoas com deficiência nas minhas turmas, então, eu me via sempre muito sozinha”, conta a psicóloga, ativista e fundadora da ONG ValePCD, que oferece apoio psicoterapêutico à população LGBT+ [lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, dentre outras sexualidades e identidades sexuais e de gênero] com deficiência e consultoria sobre acessibilidade e diversidade para empresas. “Na época, eu não falava sobre esse assunto, até porque as pessoas não consideravam que eu tinha uma sexualidade”, ela explica. Assim como Priscila, Wanderley Montanholi, vice-presidente da ValePCD só começou a se identificar como pessoa LGBT+ com deficiência na vida adulta. “Foi quando passei a fazer parte da ValePCD, única ONG voltada a essa população, que eu consegui de fato vivenciar e discutir essa minha realidade”, conta o ator e advogado.
Para Priscila e Wanderley, a forma como as pessoas compreendiam a deficiência e a sexualidade deles acabou sendo uma barreira para os processos de socialização em suas trajetórias escolares. Para Pri, como é conhecida, a deficiência sempre esteve em primeiro plano. “Antes de ser uma pessoa LGBT+ e até mesmo de ser mulher, eu já era vista como pessoa com deficiência”, conta. Ainda que sentisse atração pelos colegas de classe e até convivesse mais com os poucos jovens que se identificavam como LGBT+, foi apenas depois da faculdade que ela pôde de fato entender sua sexualidade e vivê-la plenamente. “As pessoas precisam entender que a pessoa com deficiência tem sexualidade. Muitas ainda nos veem como um anjo ou uma entidade que não sente desejo. É necessário desconstruir essa imagem.”
Para Wanderley, a experiência foi um pouco diferente. Por não possuir uma deficiência aparente — ele é uma pessoa com transtorno do espectro do autismo (TEA) e altas habilidades —, foi a discriminação sexual que apareceu como maior barreira durante sua educação. “Lembro como algumas pessoas da minha sala faziam piadas sobre eu ser gay e a gestão da escola sempre diminuía a gravidade dessas situações”, relembra.
Como espaço onde os jovens convivem com outros da mesma idade, é na escola que o capacistimo e a LGBTfobia aparecem de maneira mais escancarada. Resultados do último Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, na sigla em inglês), de 2022, indicam que cerca de 22% das garotas e 26% dos garotos relataram ter sido vítimas de atos de bullying pelo menos algumas vezes por mês. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra da População LGBTI+, lançada pela startup Todxs no fim de 2020, sete em cada dez pessoas LGBT+ não se sentem seguras para declarar suas identidades de gênero ou orientações sexuais no ensino médio.
A equipe escolar tem um papel importante para reverter esse quadro. A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em seu compromisso com a educação integral, reconhece a escola como “espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, [e que] deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades”.
Uma escola antissexista, anticapacitista e antirracista beneficia toda a comunidade escolar. Portanto, é nesse espaço que se deve atuar em prol da criação de um ambiente que favoreça o respeito às diferenças e às regras de convivência e o combate à inúmeras formas de discriminação, bem como que permita aos estudantes ter a oportunidade de compreender a própria sexualidade, construindo um caminho para uma vida adulta mais saudável e segura.
“A educação sexual emancipatória e inclusiva é fundamental para combater as violências e garantir o convívio com a diversidade”, conta Ana Cláudia Bortolozzi, mestre em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), líder do Grupo de Estudos e Pesquisa Sexualidade, Educação e Cultura (Gepesec) e coordenadora do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Sexual (Lasex) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Bauru (SP).
Ana Cláudia, em parceria com escolas públicas, conduz projetos de educação sexual nas instituições de ensino de Bauru, discutindo uma proposta que vai além das tradicionais aulas sobre sistema reprodutor. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS): “A sexualidade é experienciada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos”.
Em entrevista ao DIVERSA, ela explica como as escolas podem favorecer o autoconhecimento dos estudantes sobre a própria sexualidade, além de criar um ambiente de acolhimento para todas as orientações sexuais, identidades de gênero e também para o combate à violência sexual. São propostas que, se bem aplicadas, podem contribuir para que a escola seja um local de construção de memórias positivas, diferente das experiências vivenciadas por Wanderley e Priscila.
Como é a educação sexual de jovens com deficiência hoje nas escolas brasileiras?
A educação sexual no Brasil já teve altos e baixos. Tivemos um recuo muito grande no último governo [Jair Bolsonaro, 2019-2022] e que tem resquício até hoje: muitas famílias ainda têm uma ideia falsa do que é educação sexual, muito influenciada pelas fake news [notícias falsas]. E por isso ainda há muita resistência. No caso dos jovens com deficiência, a situação é ainda mais complexa. Primeiro porque nem sempre são feitas as acomodações que permitam que eles participem (como tradução em Libras, materiais em braille e assim por diante). Também há o fato de que muitas das pessoas com deficiência são invisibilizadas na sua sexualidade.
Como acontece essa invisibilização e como combatê-la?
É bastante comum que ela comece com as próprias famílias, porque ainda veem seus filhos com deficiência como pessoas que têm um certo grau de dependência. Como consequência, vemos jovens que são vestidos e tratados como eternas crianças. Mas esses jovens precisam ser vistos como pessoas de direitos, que também querem construir sua identidade e autonomia. Mais do que isso: deixar de lado a educação sexual pode tornar todos os estudantes mais vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), gravidez precoce e até violência sexual.
O que as propostas de educação sexual hoje englobam?
Dois dos principais objetivos são justamente o combate à violência sexual e a promoção de uma convivência respeitosa e saudável entre todos. É uma educação sexual emancipatória, crítica reflexiva e que mostra a historicidade. Ela precisa abordar tópicos como a comunicação não violenta, a responsabilidade emocional, o consentimento, os relacionamentos tóxicos e o projeto de vida de cada aluno.
E como combater a resistência das famílias?
É preciso criar uma relação de confiança e parceria. Aqui na Unesp, atuo em conjunto com as escolas, mas sei que há muitas universidades que também estão disponíveis para fazer esse trabalho. Esse é um passo importante. Mas a atuação também precisa estar amparada pela liderança da escola, pelo projeto político-pedagógico (PPP) da instituição — e se estiver contemplada também pelas políticas da rede, melhor ainda. As leis e convenções internacionais válidas no Brasil hoje já dão o respaldo legal para o trabalho. Portanto, quando os pais vêm até a escola, é importante ter uma conversa direta e explicar que se trata de uma questão curricular e legal. E também transmitir confiança e ressaltar que a educação sexual não tem o objetivo de substituir as discussões e os valores que são conversados dentro de casa, mas sim de promover uma convivência mais respeitosa entre todas e todos.
Como garantir a inclusão nesse trabalho?
A maneira como eu defendo a educação sexual vai para além de uma palestra ou um único encontro durante o ano. É preciso que [o trabalho] seja feito com frequência, para criar um ambiente de conforto. Nas primeiras vezes, é natural que os estudantes riam ou façam bagunça, mas ao longo do tempo eles passam a se engajar de uma maneira mais natural. E é importante garantir que todos os alunos tenham acesso a esses momentos. Se há estudantes que precisam de um intérprete ou de um profissional de apoio escolar, é importante que também passem por um momento de formação para que fiquem confortáveis nesse momento. Além disso, é necessário lembrar que cada um dos estudantes, em todas as turmas, tem o seu ritmo de aprendizado. Por isso, alguns conteúdos precisam ser sempre retomados, reforçados e explorados com mais profundidade.
Quais são alguns dos tópicos abordados ao longo dos encontros?
Há um ponto inicial, que é o autoconhecimento e o conhecimento do próprio corpo. A educação sexual passa por discutir “quem é você, como você se chama, do que você gosta”. Na exploração do corpo, é importante que, desde pequenos, os estudantes aprendam a dar o nome correto às partes do corpo, saibam quem pode tocá-las e entendam as diferenças entre o público e o privado, quais são as regras sociais sobre essas duas esferas, e assim por diante. E é fundamental reforçar isso com todos os estudantes, ao longo da educação, porque as regras sociais são muitas e nem sempre fáceis de entender.
Como o combate à violência sexual acontece?
Quando os estudantes aprendem a nomear as partes do corpo também começamos a discutir quais são aquelas que podem ou não ser tocadas por outras pessoas, e em qual contexto. É comum, por exemplo, que educadores ou profissionais de apoio escolar precisem ajudar na higiene dos estudantes em alguns momentos. No contexto de violência, é comum o agressor pedir à criança ou ao adolescente que não conte o ocorrido a ninguém ou fazer ameaças. Os estudantes precisam identificar essas ações e reconhecer um adulto de confiança a quem possam reportar o que está acontecendo. Muitas vezes, esse adulto de confiança será um professor ou profissional da escola, justamente porque os casos de violência sexual acontecem, em sua maioria, dentro do ambiente doméstico.
E o respeito à diversidade sexual, como entra nessas discussões?
O ponto principal está em garantir que os estudantes entendam que as sexualidades, assim como as deficiências, são diversas e específicas para cada ser humano, e que é preciso respeitar essas diferenças. Infelizmente, ainda há poucos espaços onde os nossos jovens podem encontrar acolhimento durante o início da adolescência, sobretudo os jovens com deficiência, mas eles mesmos encontram os caminhos, hoje graças às redes sociais e à internet. Vejo, na universidade, como eles se organizam em grupos e coletivos com pessoas com quem se identificam, e isso os fortalece individualmente e em grupo. Ainda assim, é importante ressaltar que cada pessoa vai compreendendo a sua sexualidade ao longo da vida e, justamente porque as pessoas com deficiência precisam lutar contra a invisibilização da sua sexualidade, é normal que essa compreensão aconteça em um ritmo diferente. O que nós, educadores, podemos fazer é montar esse ambiente de acolhimento e mostrar referências. Há hoje influenciadores e coletivos que discutem essa intersecção entre sexualidade e deficiência, e pode ser interessante compartilhar essas referências com os estudantes.
Leia mais:
Capacitismo: o que é e como a escola deve enfrentá-lo
Livro: JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Diversidade sexual na educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009. 442 p. (Coleção Educação para Todos, v. 32).
Boletim Aprendizagem em Foco – Respeito à diversidade sexual é papel da escola, Nº 90. Instituto Unibanco