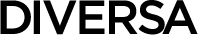Inclusão em Portugal: avanços e desafios
Em entrevista, Filomena Pereira, que atuou por 30 anos no Ministério da Educação português, aponta a necessidade de fortalecer a concepção do modelo social da deficiência

A sociedade atual está mais aberta à inclusão das pessoas com deficiência. Nas últimas quatro décadas, ampliou-se a consciência sobre seus direitos e as oportunidades de participação e permanência na escola comum, além do fato de as famílias e os profissionais serem mais engajados do que no passado. Mas não podemos descansar, porque, apesar dos avanços, as conquistas são frágeis, uma vez que a visão médica da deficiência permanece arraigada.
A reflexão acima é da educadora portuguesa Filomena Pereira, figura-chave na formulação do arcabouço legal que resultou na implementação do Regime Jurídico da Educação Inclusiva (RJEI) em Portugal a partir do Decreto-Lei nº 54 de 2018. Esse texto busca pautar as políticas educacionais a partir do paradigma da inclusão (leia mais sobre o sistema educacional português).
Filomena é mestre em educação especial pela Universidade do Porto, foi professora no ensino básico e em universidades e diretora dos Serviços de Educação Especial e Apoio Socioeducativo no Ministério da Educação de Portugal, órgão em que atuou por quase 30 anos, passando por diferentes governos. É representante em vários grupos de trabalho europeus sobre educação especial e educação inclusiva, além de colaboradora e consultora do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nessas áreas.
Com uma trajetória profissional marcada pelo compromisso com a educação inclusiva, Filomena enfatiza a importância dos marcos legais, a fim de assegurar que os direitos conquistados não sejam ameaçados, ao mesmo tempo que chama a atenção para os desafios da formação docente e para o combate aos preconceitos quanto à capacidade de as pessoas com deficiência aprenderem e viverem de forma autônoma em Portugal, apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas.
Leia a seguir a entrevista que Filomena Pereira concedeu ao DIVERSA.
Você atua no campo da educação desde a década de 1990. Quais mudanças vivenciou no processo de inclusão dos estudantes com deficiência no sistema educacional?
Portugal tem uma longa história de atenção à diversidade, e tudo isso é resultado de um grande movimento de professores, profissionais, diretores de escola, políticos e famílias. Portanto, toda essa mobilização se deveu a muitos grupos.
Mas é preciso lembrar que, até 1991, as crianças com algum tipo de deficiência ou algum tipo de limitação podiam ficar em casa, não precisavam ir à escola. Bastava o farmacêutico, o médico ou o delegado escolar dizer que isso era o melhor, e elas ficavam em casa.
A escolaridade obrigatória só ocorreu em 1991, com a lei de bases do sistema educativo. Tivemos um avanço civilizacional imenso, porque afirmamos que nenhuma criança podia ficar sem ir à escola. Isso foi, de fato, a aceitação de que todo indivíduo tem capacidade de aprender e que a única forma que nós temos de modificar o indivíduo — neste caso, nossas crianças — é atuando sobre o meio. E, portanto, o meio tem de ser estimulante. O meio estimulante é a escola pública.
A regulamentação e a implementação da lei de bases demoraram. Somente em 1996 tivemos a primeira legislação sobre os apoios para esses alunos. Lembro de, naquela altura, escrever um artigo em um livro para a Universidade Católica cujo título era “Educação Especial: Uma Esperança Sempre Adiada”.
Você passou por vários governos, permanecendo quase 30 anos no Mistério da Educação. Como se manteve no órgão frente às inúmeras mudanças de gestão?
Eu não sou política. Oriento a minha vida por princípios e valores, e não saio dali. Tive momentos difíceis. Mas a única forma que nós temos de levar a vida é por valores e princípios. Portanto, eu nunca tive agenda política. Digo — com cuidado, mas digo — aquilo que penso. E, depois, acabo por ser muito respeitada nas escolas pelos professores e diretores. Acho que o meu poder está aí.
Ao longo dessa trajetória, a concepção de inclusão mudou em Portugal?
Têm sido feitos progressos. Quando falamos em inclusão, há três dimensões que são fundamentais. Por um lado, a questão de salvaguardar direitos. Hoje há mais consciência dos direitos, mas continua sendo um desafio. As crianças têm direito à educação, à adaptação e ao apoio. Depois, garantir oportunidades de participação, sejam elas curriculares ou outras. E responder às necessidades dessas pessoas. Interligar esse triângulo é o grande desafio que está na mão dos profissionais e das famílias, porque as famílias também têm de salvaguardar direitos, não é
Acho que temos profissionais mais sensibilizados também. E, acima de tudo, famílias muito mais lutadoras. Em Portugal, as famílias lutam por mais recursos e mais expertise nas escolas, mas não por escolas segregadas [exclusivas para pessoas com deficiência]. As escolas segregadas não são bem-vistas. Os professores de educação especial também não querem ir para as escolas de educação especial.
A cultura mudou?
Houve uma mudança na cultura, mas não podemos estar descansados. Porque a qualquer momento as coisas podem andar para trás.
A institucionalização da política educacional portuguesa foi feita por um Decreto-Lei. Essa decisão foi importante para garantir a segurança jurídica e evitar a descontinuidade?
Sim, porque [ter uma lei] confere direitos e se aproxima mais de uma política de Estado, e não de um programa de governo. É mais difícil haver mudanças com as trocas de governo que todos os países enfrentam. Em Portugal, um decreto-lei é aprovado por um conselho de ministros, portanto é um instrumento forte em termos de política educativa.
A legislação confere direitos de acesso à escola, de participação e de apoio. No fundo, é o triângulo com três bicos: direito à educação, ao apoio e à adaptação. É isso que está em causa. Isso só pode ser conferido por meio de um decreto-lei. Acho que, no nosso país, as famílias estão cada vez mais conscientes dos direitos dos seus filhos. E acredito que as coisas vão mudar mais por via das famílias do que pelos profissionais [da educação].
Como você avalia a estratégia de implementação da política de educação inclusiva em Portugal? Inicialmente ela foi mais diretiva e, no momento seguinte, passou a contar com maior participação social?
Sim, são estratégias de implementação. Nós estudamos isso nos livros, não é? Há também estratégias importantes que envolvem o debate público, assim como encontrar [e dar visibilidade a] um conjunto de diretores e escolas que mostrem um caminho possível: que não temos o direito de separar as pessoas umas das outras; e, essencialmente, a consciência de que todo indivíduo tem potencial de aprendizagem. Uns aprendem assim, outros de maneira diferente, mas todos têm potencial de aprendizagem.
Esse último ponto é no que, verdadeiramente, eu acho que ainda não se acredita muito. Ainda há a concepção de que determinados grupos têm defeito e que, portanto, não vão aprender.
Por que isso ainda ocorre?
Temos um modelo tradicional de educação especial muito enraizado. Portanto, a mudança para o paradigma da educação inclusiva tem de ser muito trabalhada. Precisamos fazer muitas mudanças. No modelo tradicional, a preocupação dos profissionais é ver o que está errado naquela criança, o que é que ela tem a menos, o que lhe falta, e depois tomar decisões: “Tu tens apoio ou tu não tens apoio”. Depois [a criança] vai para uns espaços à parte, onde nem se sabe muito bem o que vai acontecer.
O paradigma da educação inclusiva é diferente, tenta compreender a criança, mas no contexto, porque sabe que as necessidades dela resultam da interação entre ela e o ambiente [as barreiras]. Portanto, o que eu preciso avaliar? Não é a criança, mas essa relação [criança e barreira] e as condições de aprendizagem.
Isso é um grande desafio ainda, porque as pessoas são muito instrumentais. Eu não sou nada instrumental. A educação inclusiva não é uma questão de recursos, é uma questão de atitude e de trabalho colaborativo. Ainda noto, no nosso sistema, que as pessoas querem muitos instrumentos, muitos formulários para ver qual é exatamente o problema, o que é que a criança tem de errado, o que lhe falta. Continua a ser, portanto, o modelo médico.
Como ampliar a compreensão do modelo social?
Para mudar para o modelo social, tenho de perceber a interação do contexto com a criança [quais barreiras ela enfrenta nesse ambiente?]. Avaliar a interação e as condições de aprendizagem, e não a criança.
Eu digo sempre aos professores: “Não esperem o diagnóstico, desenvolvam uma boa prática pedagógica. Quando o diagnóstico vier, vão perceber que nada daquilo que está escrito fará diferença”. O grande desafio é a requalificação dos profissionais e dos formadores.
Portugal é reconhecido internacionalmente pelos avanços na inclusão de estudantes com deficiência em escolas comuns. Quais os desafios que o país ainda enfrenta?
Se tu não tens uma estratégia forte para implementação, o sistema acomoda-se. Muito do que se vê hoje em dia em prática nas nossas escolas não é o Decreto-Lei nº 54, de 2018, é o Decreto-Lei nº 3, de 2008 [que tratava dos apoios aos estudantes com deficiência]. As pessoas dizem: “É tudo a mesma coisa, só mudaram os nomes”, porque a estratégia de implementação não ocorreu de forma a que as pessoas se apropriassem completamente da mudança de paradigma. Porém, em termos de paradigma [o marco legal de 2018] é muito diferente [do de 2008].
O Decreto-Lei nº 54 ainda tem medidas de apoio psicopedagógico, que eu não consegui que não estivessem lá [no texto]. Não se chega à inclusão por meio de uma abordagem psicopedagógica. Só se atinge isso com abordagens sociológicas e multiculturais. É necessário entender a inclusão na perspectiva das diversas dimensões da diversidade: cultural, linguística, étnica, de orientação sexual, cognitiva e emocional. Não é por meio de modelos psicopedagógicos.
Poderia explicar mais os pontos com os quais você não ficou tão satisfeita?
A ideia de as crianças poderem ficar mais um ano no pré-escolar e não progredirem, para mim, é o conceito de prontidão. Ela ainda não está pronta e, portanto, pode ficar mais um ano na educação pré-escolar. Isso foi uma medida com a qual eu nunca concordei. Por muitas vezes, pergunto: “Quanto tempo demora a ficar pronta [a criança], um ano, dois anos?”. “Ah, isso não sei.” “Pois, então, qualquer dia tem bigode e ainda está no pré-escolar, porque há algumas que nunca vão ter os pré-requisitos, não é?”
Por outro lado, também tenho muitas reservas com as escolas de referência. Essas unidades especializadas [criadas em 2008 e que atendem alunos com e sem deficiência] abrem a possibilidade de haver espaços segregados dentro das escolas.
Quantas escolas de referência existem em Portugal?
Há muitas. Há para os surdos, para as pessoas com deficiências visuais e para intervenção precoce [na educação infantil]. São esses três tipos. Aliás, [em 2016] quando foi feita a avaliação de Portugal pelo Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, uma das recomendações foi para acabar com as escolas de referência e com as unidades especializadas, mas não houve força [política] suficiente e perdeu-se essa oportunidade.
As escolas de referência podem ser compreendidas como um caminho temporário?
Sim, mas já estão desde 2008, é muito tempo. Não é mais temporário.
É que se acredita que, para educar, tem de juntar [diversos] profissionais em unidades especializadas. Muitas vezes, as crianças estão com o professor, o auxiliar, o terapeuta da fala e o terapeuta ocupacional. Sempre questiono: “Alguma criança merece estar o dia inteiro só com adultos?”. Mas é isso que as pessoas pensam. As pessoas acham que elas [as crianças] estão bem é com muitos terapeutas durante todo o dia. Isso tem de ser problematizado.
Quais os desafios para superar as escolas de referência?
Acho que as escolas de referência vão acabar naturalmente. Porque eles [estudantes surdos] estão a começar todos a receber implantes e, portanto, não vão querer mais ir para as escolas de referência. Essas terão os dias contados. O mesmo ocorre com os alunos cegos e com baixa visão. Acredito que o desenvolvimento digital vai ajudar, porque agora temos dinheiro para fornecer equipamentos.
As intervenções precoces, eu nem percebo para que elas existem. Elas têm basicamente um papel administrativo. Os professores são alocados nelas para depois irem trabalhar nas equipes locais de intervenção precoce. A organização da intervenção precoce para mim também levanta algumas questões. As equipes locais de intervenção precoce vêm do Sistema Nacional de Intervenção Precoce e são partilhadas pelas [áreas da] educação, segurança social e saúde. É um sistema paralelo. E tudo o que é sistema paralelo é um problema.
Qual foi o contexto da criação das escolas de referência?
As escolas de referência foram criadas em 2008, logo após a publicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Não podemos nos esquecer que, naquele ano, as escolas especiais [exclusivas para pessoas com deficiência] foram encerradas e os estudantes deixaram de ser sinalizados [Portugal deixou de classificar os estudantes por tipo de deficiência e passou a indicar aqueles que precisam de medidas seletivas e/ou adicionais de apoio]. O corpo docente e discente [dessas unidades] foram para a escola pública.
[Com essa migração] o modelo médico terapêutico da intervenção um a um ficou muito enraizado nas nossas escolas. É aquela ideia de que para as crianças com deficiência há sempre um lugar mítico, onde elas estão melhor: nas escolas de referência, nos contextos segregados, com muitos técnicos, terapeutas e professores.
Por isso é que eu lhes disse há pouco que ainda em outro dia, num espaço desses, eu perguntei à professora: “Mas alguma criança merece estar o dia inteiro só com adultos?”. E ela disse: “Ah, Filomena, nunca tinha pensado nisso”. Agora irá pensar. Tem de se dizer essas coisas às pessoas, tem de se falar, porque ainda há muito essa ideia.
A inclusão não é o meio menos restritivo possível. É o contexto em que estão todos, algo natural da vida, que é sala de aula, o refeitório, a cantina, o corredor, o recreio, a biblioteca. Não é um espacinho [da escola ou da sala de aula].
Como os professores podem atuar para fortalecer a inclusão?
Não se prendendo ao diagnóstico. Interessa-me conhecer qual é o estilo de aprendizagem, como é que o aluno aprende. Não consigo ensinar ninguém se não souber isso. Qual é a dimensão da inteligência em que o aluno é melhor: linguística, matemática, lógica, artística, visual. Seja o que for, é isso que me interessa. Precisamos ajudar os professores a compreender como é que esse aluno aprende.
Pode-se perguntar aos alunos. Levo os meus professores a fazer isso: “Falem com os estudantes e perguntem: Em que é que tu és bom? E em que é que tens dificuldade?”. Eles respondem. “E quando tens dificuldade, quem é que te ajuda? Quem é que tu podes ajudar?”. Há melhor avaliação que essa?
Eu não preciso de testes para conhecer como é que um aluno interage na sala de aula, no recreio ou no corredor. Eu tenho de observar, porque ele tem desempenhos diferentes a depender do contexto. Portanto, eu tenho de ir lá ver o que é que o chefe dos escoteiros [ou outro adulto de referência] faz, que estratégia que ele utiliza que eu posso utilizar. Porque com ele o aluno interage; comigo não. É isso que eu chamo de ser um professor cosmopolita.
+Leia também: Marco legal é destaque de sistema educacional português