Para que possamos ter uma pequena ideia da complexidade que o processo de inclusão social requer, gostaria de começar a análise da questão apresentando a experiência de quatro anos no Programa Ciência e Exceção da Academia Brasileira de Ciências, do qual fiz parte, como colaboradora convidada, na qualidade de docente da Universidade de São Paulo (USP) e como especialista em análise do comportamento.
Em 1996, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) iniciou o Programa Ciência e a Exceção, de natureza multidisciplinar, a fim de verificar como a ciência poderia amenizar as dificuldades de pessoas com deficiência e identificar projetos eficazes para melhor integrá-las com suas famílias e suas comunidades. Como parte da iniciativa, sob a coordenação do professor Paulo Rodrigues, elaborou-se um projeto binacional Brasil – Estados Unidos para a formação de lideranças que construíssem a inclusão social das pessoas com deficiência. Convidou-se duas grandes universidades brasileiras – USP e Universidade Federal Fluminense (UFF) – e duas grandes universidades americanas, University of Maryland e University of Milwaukee, além de mais de uma dezena de organizações não governamentais brasileiras e americanas.
O modelo do projeto, idealizado pelo professor Maurice McInerney da American Institute of Research, era buscar a troca de conhecimentos entre profissionais das realidades brasileira e norte-americana, envolvidos no trabalho de inclusão social da pessoa com deficiência. Propôs-se a aperfeiçoar o trabalho voltado a esse público aumentando a efetividade das ações voltadas a torná-las mais independentes em seu cotidiano, favorecendo a sua inserção social. Para atingir esses objetivos, o programa proposto realizou, dentre outras, as seguintes etapas:
• Estabeleceu parcerias com as organizações não governamentais com uma história consolidada de prestação de serviços a pessoas com deficiência, assim como outras organizações sem fins lucrativos no Brasil e nos Estados Unidos que viabilizaram o acesso ao conhecimento gerado pelas experiências bem sucedidas, em ambos os países, para a promoção de sua completa inserção social (trabalho, lazer e educação);
• Desenvolveu um programa de ação empreendedora social que envolveu o ensino para o trabalho e alocação profissional das pessoas com deficiência, preparando-as para vida cotidiana em suas residências, escola e comunidade. Além disso, formou recursos humanos para o suporte à inserção social desse público e aperfeiçoou a criação de dispositivos residenciais (moradias assistidas).
O programa teve a duração de quatro anos e contou com o financiamento da Coordenadoria de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Funds for the Improvement of Secondary Education (FIPSE). Mobilizou uma centena ou mais de profissionais em visitas, cursos, treinamentos, congressos e produziu um intercâmbio fecundo e dinâmico, não só entre profissionais, mas entre estudantes de graduação, de pós-graduação, pais, crianças e adultos com necessidades educacionais específicas, de ambos os países envolvidos e suas marcas e lembranças afetivas e profissionais tornaram-se indeléveis. Nossas vidas foram transformadas e hoje não conseguimos realizar nosso trabalho sem que pensemos, a cada dia, o que estamos fazendo para a inclusão social de pessoas que não foram inseridas de modo natural, desejável e esperado.
Infelizmente ainda não mudamos o mundo, mas percebemos que para mudar o cenário que desejamos é preciso, antes de tudo, muito estudo, competência e uma longa história de ensino e vivência sobre a defesa de direitos civis.
Um dos curiosos e assustadores conhecimentos adquiridos neste programa foi o de que, na época em que aconteceu, os EUA não tinha uma legislação tão clara a respeito da inclusão como tem o Brasil, que obriga escolas e empresas a aceitarem a pessoa com deficiência, mas uma história de trinta anos de luta civil por direitos humanos das minorias e muito esforço e investimento na formação de competências para o manejo no ensino e trabalho de pessoas com deficiência, visando sua independência, autonomia e, sobretudo, o respeito que gera nas outras pessoas.
Nesse sentido, nosso país ainda era jovem e preconceituoso nessa questão. Já havia uma lei que favorecia a inclusão no trabalho, mas nossa história de luta pela igualdade, pela equidade, de tentar superar as práticas segregacionistas ainda era mais livresca e formalista do que autêntica, genuína e corajosa. A luta pela inclusão social não nasceu de uma prática cultural, mas de normas impostas por setores da sociedade. Assim, o processo de aceitar e lutar pela inclusão social como um direito do outro, do qual não posso me esquivar e de ter plena certeza de que é preciso competência e trabalho para que esta inclusão ocorra de modo completo, se apresentava ainda imaturo na sociedade e, obviamente, na escola.
A escola ainda vive sob a égide da normalização, que entende a pessoa com deficiência como aquele que não é eficiente ou que tem o ritmo de desenvolvimento atrasado em relação à maioria. Note-se que esta ótica também escraviza os alunos que não apresentam deficiências, mas que têm diferenças óbvias entre si. Ainda no século XXI nosso sistema educacional ignora a heterogeneidade existente entre os seres humanos e trata da avaliação escolar como se todos apresentassem um mesmo ritmo de aprendizagem. Ignora também mais de 36 anos de pesquisa comportamental que já apontou a imensa superioridade do ensino individualizado sobre o maciço. Em outras palavras, a ideologia ainda reinante nas escolas é a de estranhamento e exclusão ao que é diferente. Mas não há mais espaço social e nem lei que permita isso. Resta, entretanto, saber se há competência e disponibilidade para que a lei seja cumprida. Para tal, seria preciso que cada escola pudesse participar de um programa como aquele oferecido e elaborado pela Academia Brasileira de Ciências que aqui descrevi, ainda que brevemente. Mas isto seria o ideal. Vamos à realidade. Ela me permite que pelo menos eu possa contar o que lá aprendi.
Aprendi que é preciso ensinar a cada professor os princípios da educação inclusiva, sua raiz social, seu valor emocional. Discutir extensamente com ele, para que tenha, consigo, a clareza da autoconsciência inclusiva. E, sobretudo, é preciso ensinar, de fato, o que seja incluir, no dia a dia. Incluir vai desde coisas bem simples, como ensinar um colega sem deficiência a empurrar um colega cadeirante, até as mais complexas, como ensinar um amigo a iniciar uma conversa com um autista e a ter a paciência de esperar a sua resposta e, nem por isso, deixar de lhe dar a mão ou um bom dia quando ele chega à classe.
O desenvolvimento de um repertório de habilidades, por meio de um programa especial e individualizado pode e deve ser realizado por especialistas, que auxiliam o professor. O professor não precisa fazê-lo sozinho. Mas é preciso que a escola (leia-se gestão escolar) esteja disposta a aceitar a colaboração de especialistas e acompanhantes terapêuticos e entendam que a inclusão social de pessoas com deficiência na escola é um trabalho multidisciplinar e multi-institucional e de intensa integração pais-escola.
Hoje coordeno o Programa Centro de Atendimento ao Autismo e Inclusão Social (CAIS-USP), que atende pais e crianças com transtorno do espectro autista (TEA) com o objetivo de ensino de linguagem e promoção de sua vida integrada em sociedade. É constante o aparecimento de escolas que não aceitam facilmente o trabalhoso e necessário programa de inclusão; escolas que o concebem como perda de tempo e que optam ou por rejeitar o aluno com deficiência ou por fazer de conta que lhe ensina alguma coisa. Indispostas a aceitarem o diferente, vendo-o como exceção. Ainda não perceberam que a regra é a exceção e que não há mais espaço para a segregação.
Convido a todos os professores a sentirem de perto o encanto que é ver uma criança com deficiência aprender vivamente e conviver com seus colegas com muita alegria. Convido a correrem atrás do tempo perdido em exclusão e despreparo. Pelo menos 16 milhões de pessoas no Brasil esperam por isso.
Maria Martha Costa Hübner é docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Foi presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental de 2009 a 2011 e representante internacional da Association For Behavior Analysis.
Este texto foi adaptado de artigo de sua autoria publicado pela Revista Síndromes, em setembro e outubro de 2011.
© Instituto Rodrigo Mendes. Licença Creative Commons BY-NC-ND 2.5 Site externoSite externo. A cópia, distribuição e transmissão dessa obra são livres, sob as seguintes condições: Você deve creditar a obra como de autoria de Maria Martha Costa Hübner e licenciada pelo Instituto Rodrigo Mendes Site externoSite externo e DIVERSA.
2 Comentários
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.
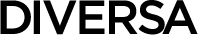




ola, gostaria de citar teu artigo no meu trabalho, como devo creditar de acordo com a abnt?
Olá, Luciana. Você pode fazer referência a este artigo no seu trabalho usando as determinações da ABNT para citação de artigos da internet. Abraços!